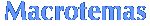



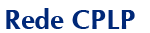
|

Cidadania
e Direitos Humanos:
Um Sentido Para a Educação
Capítulo
VI
NA
CIDADANIA
E NOS DIREITOS HUMANOS
“O
que a escola fala é tão alto que não se escuta o que ela está dizendo”.
Paráfrase
de Ralph Emerson
ACADEMICISMO,
HISTORICISMO,
LEGALISMO
Talvez
devido ao formalismo do meio jurídico que, por décadas, tem sido
o mais influente no campo dos direitos humanos e o que mais se apropriou
de seu discurso, sempre que se fala em “educação para direitos humanos
e cidadania”, tende-se a um viés um tanto positivista.
Por
esses dias, conversando com o amigo, e sempre mestre, Antonio Carlos
Gomes da Costa, concordávamos no quanto são tediosas certas “capacitações”
para direitos humanos e no quanto ainda carecem de reflexões mais
profundamente existenciais, mais úteis e significativas, alguns
materiais de apoio didático-pedagógico que são produzidos na área.
Em
nosso jargão interno, chamamos esse fenômeno de “mescla de academicismo,
historicismo e legalismo”.
Parece
que educar para os direitos humanos e a cidadania pode resumir-se
em conhecer a Declaração Universal, identificar o tema na Constituição
Brasileira, tomar ciência da evolução da matéria através dos tempos
e recitar alguns artigos centrais das muitas legislações internacionais
(pactos, tratados, convenções) que se produziram, em especial, desde
1948.
Evidentemente,
isso é informação, necessária para quem está na linha de frente
desse segmento da militância, mas ainda está longe de ser “educação”.
Precisamos zelar para que o reducionismo que identificou educar
com informar não contamine
nossa ação porque, no campo em questão, isso seria fatal. O efeito
inverso, ou seja, o rápido afastamento e ojeriza das pessoas em
relação aos Direitos Humanos, pode ser intensificado ou facilmente
instaurado se as forçarmos a esse tipo de contato mecânico e impessoal
com algo que só pode ser compreendido e só tem sentido em uma perspectiva
profundamente vivencial.
DISTRIBUIR
INFORMAÇÕES x PRODUZIR CONHECIMENTO
Quando
se trata de instituições formais, como a escola, esta questão é
sumamente agravada, talvez pela
falta de compreensão da mesma em relação à sua vocação no
tocante ao conhecimento. Michael Apple desvenda-nos
o auto-conceito de que padece a escola como “distribuidora
de conhecimento”. Não percebe, ela, o sentido maior de ser “produtora”,
o que envolveria, necessariamente, encantamento, descoberta, sentimento,
razão e projetos particulares e coletivos dos seus sujeitos interagentes.
Por isso, ao tratar da questão da Cidadania e dos Direitos Humanos,
muitas vezes o faz nessa dimensão medíocre, pobre, de quem se vê
como mera repassadora de um patrimônio pronto, não dinâmico, criação
alheia, que não lhe pertence e nem se amplia como conquista permanente
de seus educadores-educandos. No máximo, propõe algum usufruto,
não a autoria e co-autoria.
Ensinar
leis, estatutos, constituições, informações históricas, portanto,
ainda está muito distante de “educar”.
EDUCAR
É HUMANIZAR PELO HUMANIZADO
Só
se educa para Direitos Humanos quem se humaniza
e só é possível investir competentemente na humanização a partir
de uma conduta humanizada.
Assim,
mais do que uma temática a mais, Direitos Humanos é uma praxis (conforme Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, no Novo Dicionário
da Língua Portuguesa, Editora Nova Fronteira, Rio de janeiro, 1986,
“...conjunto das atividades
humanas tendentes a criar as condições indispensáveis à existência
da sociedade e, particularmente, à atividade material, à produção;
prática”).
Construir
interativamente o homo humanus
é, pois, educar para direitos humanos, perspectiva essa bem mais
abrangente do que aquele simples ler, “tomar conhecimento” e apropriar-se
dos avanços conquistados por outrem.
Nesse
campo, de forma absolutamente indispensável, não é possível conhecer
sem fazer; não é possível apropriar-se
sem alargar; não é possível
ter sem promover; não é possível propor
sem ser.
Se
a conquista da cidadania e dos direitos humanos é o melhor sentido
para a educação, isso não significa que esse sentido precise estar
sendo permanentemente “entitulado”. É muito mais e significa mais
como “pano-de-fundo”,
como “moldura” inspiradora de todo o processo.
O
CURRÍCULO OCULTO REVISITADO
Aqui,
é preciso reintroduzirmos uma rápida reflexão sobre a questão do
“currículo oculto”. Ao reintroduzi-la, precisamos ressignificar
esse importante conceito, uma vez que sua formulação clássica tinha
muito que ver com a sociedade industrial e, hoje, sequer estamos
em uma sociedade industrial. Vivemos no mundo onde a atividade econômica
dominante são os “serviços”, onde o industrial e o rural são subsidiários.
Sem querer aprofundar-me agora em tema tão polêmico, preciso lembrar
que a questão do consumo no
mundo contemporâneo se tornou bem mais significativa do que a questão
da produção, ainda que,
em momento algum, eu deseje contrapor uma coisa à
outra ou segmentá-las. O enfoque é que muda. Na sociedade
dos serviços, a ideologia consumista (tomada aqui como forma de
domínio cultural, de exercício de poder e direcionamento sobre o
inconsciente individual e coletivo) torna-se muito mais onipotente,
muito mais onipresente, muito mais hipnótica, muito mais complexa
e polifacetada do que as formas arcaicas que a precederam.
Isso
nos sugere reconhecer o mérito da teoria do currículo oculto, em
seu contexto histórico, mas trazendo-a para uma nova amplitude,
menos relacionada ao adestramento para o mercado de trabalho e mais
direcionada ao condicionamento para o mundo consumidor. Assim superamos
o que Apple critica:
“Pois
poderíamos descrever a realidade do que é ensinado aos estudantes
com clareza excepcional e ainda assim estarmos errados quanto aos
reais efeitos que esse ensino tem, se as normas e os valores que
organizam e orientam as vidas subjetivas cotidianas dos trabalhadores
não fossem as mesmas encontradas na escola.”
“A
literatura sobre o currículo oculto, por causa de seu modelo claramente
determinista de socialização e seu foco exclusivo na reprodução,
com exclusão de outras coisas que podem estar ocorrendo, tem uma
tendência a retratar os trabalhadores como se fossem autômatos inteiramente
controlados pelos modos de produção...
Ora,
em um mundo cuja produção tende a não mais basear-se (sequer no
segmento industrial) em princípios Tayloristas, onde a “linha de
montagem” cega, acrítica, obediente, vai sendo substituída ou pela
mecanização ou pela coordenação-supervisão inteligentes, é preciso
repensar a teoria do currículo oculto em termos de adequação do
estudante aos mais complexos esquemas de manutenção do mundo do
consumo, com suas prioridades, seus “valores”, seus objetivos e,
subseqüentemente, suas formas desejadas de relações interpessoais.
Assim,
o currículo oculto se mantém mais ativo do que nunca, ainda feito
desse anacronismo taylorista mas já tingido pelas cores da nova
ordem global. Seu impacto se dá em um campo mais sutil, mais subjetivo,
mais ideológico, a partir das demandas da competitividade, da globalização,
do domínio-dominado da cibernética e do mais desenfreado consumo
desejado ou realizável. Lester Thurow tinha razão quando disse que
“a teologia do capitalismo é o consumo.”
Em
outras palavras, são os exemplos que damos, as utopias pelas quais
nos movemos ou a falta delas, o que valoramos, as entrelinhas de
nossos discursos, a forma como tratamos os demais, a abordagem que
fazemos da ciência, a conduta que temos em relação aos processos
de aquisição do conhecimento, os elementos mais importantes de nossa
ação na escola (ou na família, naquilo que a tange). Os conteúdos
são apenas importantes ferramentas, ainda que nos pareçam, ingenuamente,
o foco de nossas ações como professores.
O
que plantamos para toda uma vida é muito mais do que a lembrança
(pequena, diga-se de passagem) de alguns conteúdos. Não somos, nunca,
neutros.
PARA
EDUCAR, REPENSAR A EDUCAÇÃO
“A
opção política do educador, sem a qual o trabalho pedagógico não
se define, vai encaminhar as suas ações complementares, quais sejam:
o quê ensinar (seleção de conteúdos que estejam de acordo com aquela
opção), como ensinar (decisões metodológicas que façam jus àquela
opção) e as formas pertinentes de avaliação. Caso não exista um
equilíbrio nas partes do todo desse trabalho, teremos incoerência
entre a teoria e a prática ou mesmo a traição da teoria pela prática,
levada a efeito no cotidiano das salas de aula. Muitas vezes o discurso
sobre a mudança e a inovação não passa de mero discurso... ele se
trai completamente, acionando conteúdos estéreis, procedimentos
retrógrados e avaliações autoritárias.”
Por
tudo isso, debater a questão pedagógica, a qualidade das relações
interpessoais, as concepções epistemológicas, os conceitos de ciência
e suas implicações no campo ético, tem muito mais a ver com educação
para os direitos humanos e a cidadania do que simplesmente publicar
a Declaração de 1948, em várias cores e formatos, para distribui-la
às ”novas gerações” formadoras de opinião ou ao “povo da periferia”.
Evidentemente, isso não anula o valor de divulgar a mesma, ainda
mais quando constatamos como uma das piores conseqüências da miséria
econômica a miséria da auto-estima e da alo-estima: a maioria das
pessoas desconhece seus direitos (e, consequentemente, também seus
deveres). No entanto, essa simples divulgação, descolada do acompanhamento
e orientação para a decodificação, da presença ativa de educadores
preparados para propor pensá-la como vida e como alternativa possível
na prática imediata, faz com que a boa intenção se transforme, na
maior parte das vezes, em dinheiro público e privado desarticulado,
que voa pela grande janela da massificação.
Apple, Michael. Educação e Poder, Artes Médicas, Porto Alegre, 1989.
Apple, Michael. Educação e Poder, Artes Médicas, Porto Alegre, 1989.
Apple, Michael. Educação
e Poder, Artes Médicas, Porto Alegre, 1989.
Teodoro da Silva, Ezequiel. O
Professor e o Combate à Alienação Imposta, Cortez Editora
e Editora Autores Associados, São Paulo, 1991.
Repensar
com os educadores a educação e, em particular, a escola, repensá-la
profundamente, não só em seus aspectos conjunturais mas também estruturais,
é possibilitar a assunção desse sentido aqui buscado, criando as condições
para a transformação da cultura dominante. De fato, a educação familiar
e escolar jamais serão escutadas pelo que dizem mas pelo que são. “Direitos
Humanos” significam mais do que normas; “cidadania” é bem mais do que
preleções.
Assim,
passamos a refletir - sem qualquer pretensão de exaurir ou mesmo aprofundar
suficientemente o tema, mas apenas de resgatar algo do óbvio por vezes
esquecido - sobre algumas questões que se colocam como condições sine
qua non para podermos carregar a educação com essas tintas de sentido.
Quero
abordar, ainda que ligeiramente, entre tantas, três dessas questões,
que denotam a forte presença do currículo oculto ao qual nos referíamos
e que são “nós górdios” da educação escolar.
1ª
- A CONCEPÇÃO DE “CIÊNCIA” DA ESCOLA
Se
a escola não consegue perceber a ciência como dinâmica e não linear,
em permanente movimento revolucionário, como tão bem descreveu
Thomas Kuhn ;
se a toma como uma nova e arrogante religião; se a transforma em um
conjunto de dogmas; se não a relativiza (como fazia o mais que abalizado
Einstein, ao dizer que “daqui a cem anos toda a nossa ciência será considerada
ridícula”); se não vê sua evidente incompletude; se não assimilou ainda
o “princípio da incerteza”, tão corajosamente
anunciado por Heisenberg; se continua fazendo profissão de fé
inabalável em crendices tais como leis gerais, universais, imutáveis
e invioláveis de causa-efeito, então essa escola, além de estar muito
afastada de tudo o que é contemporâneo no campo em questão, utiliza,
sem saber, seu racionalismo cartesiano, laplaciano, newtoniano, como
instrumento de controle da impulsividade intelectual, da criatividade,
do pensar sem peias, que pode ser inventivo. Ajuda a manter a ordem
mas, hoje, paradoxalmente, não ajuda a manter funcionando bem, em nível
mais sofisticado, o próprio sistema desejador da ordem, uma vez que
a superaceleração das descobertas e a competitividade exacerbada exigem
a permanente intervenção de “hereges” em relação ao pensamento oficial.
Talvez
visão tão tacanha de ciência possa servir ao sistema apenas em relação
à divisão internacional do poder (leia-se “conhecimento”). Talvez seja
apropriada para o Terceiro Mundo e para professores e alunos de escolas
terceiromundistas.
2ª
- A CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA
Muito
se tem escrito sobre avaliação e eu não seria pretensioso de querer
versar com suficiência sobre o tema em algumas poucas linhas. Alguns
resgates de importantes obviedades, por vezes esquecidas, é apenas o
que almejo.
A
avaliação é importante para a análise da escola, porque configura-se
na mais desnudada evidência da real proposta da mesma. Isso ocorre porque
os mecanismos de poder escolar (aqui, na dimensão reprodutiva, de “agência
de outras agências”), estão especialmente estribados nela.
Através
da avaliação deixamos claro quem possui de fato a autoridade exclusiva
e excludente, qual a conduta intelectual e ideológica desejada, o que
realmente importa em todo o processo (que, com certeza, não é como se
diz, o próprio processo), além de sabotarmos as possibilidades formativas
de auto-conceito e de auto-percepção do nível de competência cognitiva.
Evidentemente,
a avaliação escolar é tudo, menos o que dizem os belos Regimentos e
Marcos Referenciais da quase totalidade das escolas. Não é processual,
não é diagnóstica, não é formativa, não é participativa, não é provisória
e não é cumulativa. É, na verdade, o mais contundente testemunho de
um anacronismo hipócrita!
O
que se faz, na maioria dos casos, é medição grosseira, média mentirosa
(porque niveladora de compreensão desigual de desiguais informações),
quantificação matemática formal do que possui obrigatórias dimensões
essencialmente subjetivas (o conhecimento), estímulo ao “conteudismo”,
ao copismo e à “decoreba”, “provismo” e testagem “acumulativa” (precisamente
o contrário da “cumulativa”).
Minha
reflexão, aqui, é um pouco “azeda” porque, lamentavelmente, não há quase
nada de bom para dizer a respeito da avaliação.
A
proposta que tenho, como disse, não é aprofundar, neste livro, a temática,
mas denunciá-la e sugerir apenas duas práticas às escolas que verdadeiramente
queiram comprometer-se com a construção da cidadania:
1a
- Que cumpram seus discursos progressistas (quase todas os possuem),
implementando as coisas bonitas que dizem seus documentos;
2ª
- Que comecem a introduzir, ao lado da heteroavaliação (que garante
exclusividade de poder ao professor da disciplina, ao conjunto de professores
e à instituição), práticas reais, progressivas, de auto-avaliação e de inter-avaliação.
Só
isso e nada mais pode garantir como expressão verdadeira as expressões
declaratórias de que a avaliação serve à aprendizagem. Da forma como
tem sido utilizada (em geral), sua serventia está mais relacionada a
formas de controle e massificação.
Ao
argumento de que “os alunos não estão preparados para isso”, contraponho
o de que não podem mesmo estar, uma vez que não lhes são facultadas
oportunidades de exercício.
Estou
absolutamente convicto, até por muitos anos de prática compensadora
na área, que auto-avaliação e inter-avaliação funcionam com a mais absoluta
competência, como ferramentas de aperfeiçoamento da aprendizagem, desde
que encaminhadas sem paternalismos e com prudente seriedade. Mas sei,
igualmente, que jamais nos convenceremos disso se não começarmos a fazê-lo,
deixando o campo morno e confortável das intenções.
3A
- A CONCEPÇÃO DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS DA ESCOLA
Já
falamos sobre “educação bancária”, que é o autoritarismo vertido para
a prática acadêmica.
Aqui,
queria apontar mais para a questão afetiva, para a empatia, sem a qual
não há aprendizagem.
Há
dois tipos de relação que, em hipótese alguma, podem ser empáticas:
as autoritárias e as anômicas. Em ambas o interlocutor mais frágil sente-se
desimportante.
É
interessante tomarmos algum tempo para avaliar a postura sustentada
verbal e fisicamente pelos professores. Ela revelará como o currículo
oculto dispõe a aprendizagem dos padrões relacionais de submissão ou
diálogo com a autoridade.
Para
os professores, especialistas, diretores, os alunos podem ser:
Os
“da outra trincheira”, os que precisam ser “domados”, aqueles a quem
“não se mostra os dentes”, na perspectiva autoritária;
Os
clientes receptores, a platéia, os “profissionais-estudantes”, na perspectiva
fria e anômica ou semi-anômica do tecnicismo;
Pessoas
que necessitam de desafios para desenvolverem-se mas que também sabem
e podem desafiar o desenvolvimento nosso e dos demais. Seres iguais
a nós em direitos mas diferentes no papel social atuado na escola, a
quem devemos carinho e acolhimento mas também balizamentos seguros.
Nas
duas primeiras concepções relacionais, é importante frisar, as relações
são mediadas pelos conteúdos.
Na
última são mediadas pela humanidade dos sujeitos.
|
|
|
|
|