|
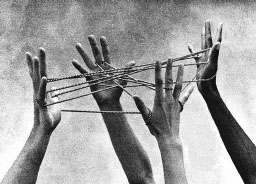
OS
DIREITOS HUMANOS E A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NO CONTEXTO
LATINO-AMERICANO
Luciano Mariz Maia
Os
horrores da 2a Guerra Mundial são ordinariamente
lembrados para explicar a tomada de consciência das sociedades
democráticas em instituir mecanismos que servissem para
prevenir a repetição de acontecimentos tão funestos,
causadores de gravíssimas violações aos direitos dos povos.
Se toda guerra, por si mesma, causa destruição, o conflito
armado que se travou entre os países do Eixo e os países
Aliados evidenciou a inexcedível capacidade humana de destruição,
sendo o holocausto o exemplo acabado disto. Milhões de judeus,
ciganos, homossexuais, e outros grupos foram dizimados pelos
nazistas. Mas para além dos números, o modo como se deu a
destruição em massa revelou a torpeza de autoridades públicas,
quando disponibilizados em seu favor instrumentos de poder.
A
Liga das Nações demonstrou pouca eficiência, na prevenção
de conflitos. Para dizer o mínimo, as grandes potências sequer
aderiram a seu instrumento de constituição.
As
Nações Unidas, criadas em 1945, tinham precisamente a função
de promover e preservar as relações harmônicas entre as Nações,
sendo incluída entre as suas funções o papel de promover e
proteger os direitos humanos.
Como
a Carta das Nações Unidas – tratado multilateral – não
continha nenhuma definição do que fossem os mencionados
direitos humanos, coube à própria Organização das Nações
Unidas – ONU – cuidar de aprovar uma declaração, que
explicitasse seu significado. Isto se deu com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembléia
Geral em 10 de Dezembro de 1948.
A
Declaração Universal é da mais absoluta relevância, posto
que estabeleceu de modo definitivo o processo de
internacionalização dos direitos humanos, além de articular
os direitos civis e políticos com os direitos econômicos,
sociais e culturais. Mas a Declaração não era um tratado, e não
tinha força vinculante, ao momento de sua adoção. Daí a
necessidade de adoção de atos internacionais com força
normativo, de modo a gerar obrigações para os Estados partes,
conduzindo a maior observância dos preceitos referidos na
Declaração Universal.
O
primeiro documento com força vinculante foi a Convenção para
Prevenção e Punição do Delito de Genocídio, foi aprovada a
9 de Dezembro de 1948.
O
cenário internacional pós-guerra, entretanto, apresentou arena
divida, com início da chamada “guerra fria”, com o mundo
sendo aglutinado em dois grandes blocos: capitalistas, à frente
os Estados Unidos, e comunistas, conduzidos especialmente pela
União Soviética. Se a ONU foi criada em 1945, a OTAN –
Organização do Tratado do Atlântico Norte, formada pelos
Estados Unidos e vários países europeus aliados, foi criada em
1949, e, para contrabalançar sua influência, foi firmado em
1955 o Pacto de Varsóvia, que unia o bloco socialista.
A
acirrada disputa pelo poder político, e rígida divisão ideológica
afetou profundamente o trabalho das Nações Unidas. A elaboração
da chamada “Carta dos Direitos Humanos” (“Bill of Rights”)
foi prejudicada, sendo cindidos os dispositivos anteriormente
unificados na Declaração Universal. O modo de conciliar as
tendências antagônicas foi concordar com a elaboração de
dois pactos distintos: o Pacto dos Direitos Civis e Políticos,
e o Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais, o que ocorreu em
1966.
O
trabalho da ONU, por intermédio de seus vários órgãos e agências,
permitiu ainda a produção de inúmeros outros documentos
internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, dos
quais releva destacar a Convenção contra a Discriminação
Racial (1965); a Convenção contra Discriminação contra a
Mulher 91979); Convenção sobre os Direitos da Criança
(inicialmente em 1959, e novo instrumento em 1989); Convenção
para prevenir e punir a Tortura; etc.
Contemporânea
da idéia de formação de uma organização internacional, que
cuidasse das relações harmônicas entre todos os países do
mundo, e também da causa dos direitos humanos, floresceu a idéia
de formação de organizações de cunho regional, aproveitando
as experiências históricas comuns, e, de certo modo, uma maior
aproximação política, econômica, social e cultural, de modo
a tornar mais efetivos os preceitos previstos em atos
internacionais de que fizessem parte os Estados integrantes da
região.
No
âmbito das Américas foi constituída a Organização dos
Estados Americanos – OEA.
Anteriormente
à proclamação da Declaração Universal, foi promulgada em
Abril de 1948 a Declaração Americana dos Direitos Humanos,
contendo dispositivos referentes a direitos econômicos e
sociais, ao lado dos direitos civis e políticos.
Posteriormente
a maior parte desses dispositivos veio a se converter na Convenção
Interamericana de Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de
San José da Costa Rica, por ter sido nesta cidade a assembléia
da OEA que a proclamou.
Recentemente,
a essa Convenção foi acrescentado o Protocolo Facultativo Nº
1, de dezembro de 1988, que trata de direitos econômicos e
sociais em maior detalhe.
Que
impacto terão tido esses instrumentos internacionais nos países
da América Latina, e mais especificamente no Brasil?
A
Guerra Fria produziu efeitos devastadores sobre a América
Latina. O temor do comunismo fez com que os Estados Unidos
estimulassem ou apoiassem golpes militares em todo o continente,
produzindo ditaduras em cadeia, com severa repressão política,
durante os anos 60 e 70.
Foi assim em 1954, quando a CIA (Central
Intelligence Agency – Agência Central de Inteligência) se
fez presente na Guatemala, e patrocinou um golpe para derrubar o
presidente Jacobo Arbenz, que pretendia executar relevante
programa reforma agrária e era apontado como responsável pela
desapropriação de uma companhia americana, a United Fruit.
Também Cuba sofreu – e ainda sofre – a
atuação anticomunista dos Estados Unidos. Em abril de 1961
cubanos exilados em Miami foram treinados e orientados para a
derrubada de Fidel, no episódio que ficou conhecido como A
invasão da Baía dos Porcos, que terminou em fracasso.
O golpe de
31 de Março de 1964, através do qual os militares
tomaram o poder de João Goulart, no Brasil, também teve a
participação da Casa Branca, e sua agência de inteligência.
Em 1973, foi a vez do Chile. O golpe militar
do general Augusto Pinochet, que resultou na morte de Salvador
Allende e no surgimento de uma brutal ditadura teve a presença
americana.
"A
Guerra Fria provoca, em diferentes lugares do mundo, e também
na América Latina, uma série de ações através de um dos braços
americanos mais importantes, a CIA. Esse braço se manifesta de
uma forma nítida em vários países, como a Guatemala, o
Uruguai, a Argentina, o Chile e o Brasil. Todos nós sabemos da
influência direta da CIA na derrubada de Salvador Allende e na
subida de Augusto Pinochet como sangrento do Chile durante
muitos anos. No Brasil, a presença do serviço secreto
americano pode ser percebida em alguns momentos e, mais
particularmente, em 1964. Mas atribuir-se à CIA todo o
movimento de 64 e o próprio golpe militar é um exagero
evidentemente inaceitável. Entretanto, não há dúvida de que
a CIA realizou a sua tarefa dentro do Brasil, de apoio a
determinados setores de direita e de solapamento do próprio
governo de Jango." Jaime Pinsky – historiador.
Durante
todo esse período a maioria dos países latino-americanos,
tendo governos ditatoriais, não aderiram aos tratados
internacionais de direitos humanos. O que só veio a ocorrer,
com a redemocratização.
O
Brasil iniciou, a partir do final da década de 70, início da década
de 80, um lento e gradual processo de liberalização política,
com o retorno paulatino das liberdades públicas, notadamente a
capacidade de organizar livremente partidos políticos, e de
votar e escolher, diretamente, os governantes.
A
transição do governo militar para um governo civil ocorreu em
1985, com a posse de José Sarney, vice-presidente eleito com
Tancredo Neves, através de eleições indiretas por um Colégio
Eleitoral, formado pelos congressistas, e por representantes das
assembléias legislativas estaduais.
Com
Sarney, Presidente civil, inicia o Brasil sua adesão aos pactos
e convenções internacionais de proteção, promoção e defesa
dos direitos humanos, os quais, muito embora não fizessem ainda
parte do nosso ordenamento jurídico, influenciaram o legislador
constituinte de 1987/1988.
A
internalização dos tratados internacionais, por parte do
governo brasileiro, e sua incorporação ao direito interno não
veio acompanhada de mecanismos que os tornassem conhecidos, e de
órgãos de monitoramento que os tornassem respeitados e
aplicados.
O
gosto pelas palavras, e o medo das ações concretas, ainda
domina a política do governo federal para com a implementação
dos direitos humanos. Evidência maior disto é a própria
elaboração de um Programa Nacional de Direitos Humanos, em
1996, lançado festivamente, quando ficou absolutamente
demonstrada a ausência de articulação com as demais esferas
de poder da federação (estados membros e municípios),
ordinariamente cenário mais intenso das violações.
Assim
é que, nas breves considerações que faremos, analisaremos os
direitos humanos na experiência brasileira, dentro do contexto
latino-americano. Particularmente serão feitas referências a
direitos civis e políticos, tais como proibição de tortura; julgamento justo; liberdade de expressão e
igualdade e não discriminação.
No
que pertine aos direitos econômicos, sociais e culturais, serão
abordados os direitos à
habitação; à reforma agrária; direitos da mulher; e direitos
das minorias.
Tortura.
O
Brasil vivenciou de Março de 1964 a Março de 1985 o regime
militar, grande parte do qual caracterizado por ser um “regime
de exceção”. Instalado pela força das armas, o regime
militar derrubou um presidente civil e interveio na sociedade
civil. Usou de instrumentos jurídicos intitulados “atos
institucionais”, através dos quais procuraram legalizar e
legitimar o novo regime. A sombra mais negra veio com a prática
disseminada da tortura, utilizada como instrumento político
para arrancar informações e confissões de estudantes,
jornalistas, políticos, advogados, cidadãos, enfim, todos que
ousavam discordar do regime de força então vigente. A praga a
ser vencida, na ótica dos militares, era o comunismo, e
subversivos seriam todos os que ousassem discordar. Foi mais
intensamente aplicada de 1968 a 1973 sem, contudo, deixar de
estar presente em outros momentos.
Com
a redemocratização, consagrada na Constituição de 1988, como
seu documento político, o povo brasileiro cuidou de explicitar
como desejaria se ver organizado em um Estado Democrático de
Direito. Por isso se tem uma Constituição onde os direitos e
garantias fundamentais principiam o texto constitucional, e são
detalhados e extensos: para serem conhecidos; para serem
garantidos; para serem respeitados.
O
artigo 5o. da Constituição tem o inciso III
proclamando: “ninguém será submetido à tortura nem a
tratamento desumano ou degradante”. Degradante é o tratamento
que humilha. A degradação decorre da diminuição que se faz
de alguém aos olhos dessa própria pessoa, e aos olhos dos
outros. A desumanidade assume contornos de ser imposta obrigação,
ou esforço, que excede os limites razoáveis exigíveis de cada
um. É desumano, por exemplo, exigir que crianças carreguem
pesadíssimos fardos de folhas de fumo, como denunciado e
exposto, ao Brasil, por programa recente de televisão. Mas, e a
tortura? A Constituição não a definiu. Nem mesmo quando
ordenou, no inciso XLIII desse mesmo artigo 5o, que o
legislador ordinário definisse-a como “crime inafiançável e
insuscetível de graça ou anistia”.
A
tortura na Lei 9.455/97.
O
elo que faltava para punição doméstica da tortura
completou-se quando, finalmente o Congresso Nacional votou
projeto de lei criminalizando a tortura. O projeto foi
sancionado pelo Presidente da República, e converteu-se na lei
9.455, de 7 de Abril de 1997. Tortura também é crime no
direito brasileiro.
Tortura,
como dito, já era crime, quando praticada contra crianças e
adolescentes, em razão de lei especial disciplinando a matéria.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 233 tipifica
como crime “submeter
criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância,
a tortura”. Mas não definia o que vinha a ser tortura.
A
lei 9.455/97 traz definição do que seja o crime de tortura. É
tortura empregar violência ou grave ameaça, de modo a causar sofrimento físico
ou mental, quando a violência ou a ameaça são utilizados
com o fim de obter informações ou confissão da vítima ou de
terceira pessoa. Também é tortura o uso daquela violência ou
ameaça grave, para obrigar alguém a praticar um crime ou,
ainda, quando a violência ou a ameaça são simplesmente
motivadas por sentimento de discriminação racial ou religiosa.
A primeira situação é caracteristicamente praticada por
agentes do Estado. Já essas duas últimas situações
alcançam qualquer cidadão, mesmo sem que detenha a
condição de autoridade pública.
A
violência ou a ameaça grave, para constituir tortura tem que
ser de intensidade tal que provoque intensa dor física ou
intenso sofrimento mental.
A
lei equipara à prática de tortura a conduta de submeter pessoa
presa ou detida a sofrimento físico ou mental mediante prática
de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.
Isto significa dizer impor a alguém sofrimento ou
constrangimento maior que aquele que a lei autoriza ser imposto,
como conseqüência ordinária de sua imposição. É conseqüência
normal, por exemplo, o uso de algemas, a própria detenção e
recolhimento a estabelecimento prisional, embora disso possa
resultar em maior ou menor grau sofrimento e angústia.
A
lei inovou ao considerar, também, responsável pela prática da
tortura aquele que, tendo o dever de evitá-la ou de apurá-la não
o faz. Embora se dirija primariamente aos agente públicos, também
os particulares podem ser acusados de responsáveis por tortura,
quando se omitirem. Assim é com os proprietários e
fazendeiros, ou titulares de empresas de vigilância que,
passando a ter conhecimento de atos de tortura, são coniventes
com essas práticas por parte de seus empregados ou prepostos.
A
prática de tortura é crime inafiançável. Isto significa
dizer que o responsável não pode depositar, perante a
autoridade policial ou judiciária, importância em dinheiro,
como condição para responder a processo em liberdade, dando
aquele dinheiro como garantia de que se fará presente aos atos
processuais. Mas também não implica em dizer que, colhido em
flagrante, tenha que responder preso a todo o processo. Mesmo
para a prática da tortura prevalecem os outros valores
constitucionais, que asseguram a todo acusado o devido processo
legal, com a presunção de inocência, e o direito de responder
em liberdade, a menos que fique provado que essa liberdade poderá
dar ensejo a que o acusado interfira na instrução criminal ou
volte novamente a cometer outros delitos ou, ainda que fuja,
para se evadir à imposição de uma pena futura.
Criminalizar
a tortura foi uma etapa necessária na luta para sua prevenção
e punição. Mas está longe de ser a única medida suficiente
para atingir aquele resultado. A imprensa - olhos da Nação, na
expressão de Ruy Barbosa -, tem denunciado com freqüência
situações reveladoras de práticas de tortura, que continuam
sem providências. Não é fácil punir a tortura. Primeiramente
porque as principais autoridades mais propensas à sua prática
são as polícias - civil e militar. E essas são exatamente as
autoridades responsáveis pelas investigações das práticas de
tortura. Por isso são freqüentes, no Brasil, as denúncias de
torturas, praticadas pela polícia, contra pessoas detidas e sob
sua guarda.
Não
há solução fácil. Mas um caminho necessário aponta no
sentido de que é preciso investir fortemente na capacitação
das nossas polícias. É preciso que os policiais voltem a gozar
de prestígio e respeito junto à comunidade, pelo bem que fazem
e podem fazer, e deixem de ser temidos pelo mal que podem
causar. É preciso treinamento, capacitação, política
salarial justa, acompanhamento psicológico, para que os
policiais possam estar à altura das elevadas funções que lhes
são confiadas.
Por
outro lado, as outras instituições que atuam junto ao sistema
de segurança e justiça não podem deixar de cumprir seus papéis.
Advogados atentos e corajosos, dispostos a enfrentar situações
de risco para os cidadãos, quando detidos ou à disposição de
autoridades policiais; membros do Ministério Público
diligentes no exame dos autos de Inquéritos, e na busca de
informações que assegurem uma instrução policial séria e
correta; membros da magistratura, dispostos a não consentir que
sejam violados direitos fundamentais do cidadão. Sem prejuízo
de outras atividades profissionais, que oferecem seus serviços
científicos e técnicos, em busca da descoberta da verdade. São
os médicos legistas, e outros peritos.
A
lei é a vontade geral do povo. Ela diz que nossa sociedade
brasileira quer ser civilizada, e banir de vez a prática da
tortura, seja ela de natureza ideológica, como no auge da
ditadura militar, seja por incapacidade dos agentes da lei e da
ordem encontrarem outros caminhos para prevenção e punição
dos delitos.
Agora
não tem mais volta nem discussão doutrinária: a tortura agora
é crime. E seus responsáveis merecem punições exemplares.
Julgamento
justo
ECCE
HOMO, ou Do Dever de Apresentação do Preso à Autoridade
Judicial
Eis
o homem, disse Pilatos, após interrogar Jesus. O Cristo fora
preso na noite anterior, e em seguida fora conduzido à presença
do sumo sacerdote Caifás, e do conselho de anciãos. Os “príncipes
dos sacerdotes” judeus tentavam obter a condenação de Jesus
por motivos de índole religiosa. Mas sabiam que sua acusação
não teria consistência suficiente. Decidiram introduzir o
elemento temporal de “subversão da ordem”, com a acusação
de pretender “O Filho do Homem” querer conquistar o trono
dos césares, ao se proclamar - ou ser proclamado - “Rei”
dos Judeus. Daí que os sacerdotes, logo em seguida aos fatos,
conduziram Jesus à presença de Pôncio Pilatos, Governador dos
negócios romanos, para que fosse submetido a julgamento.
Preso,
Jesus foi submetido, sem demora, à presença das autoridades
responsáveis por um julgamento. Primeiramente o conselho de
anciãos dos judeus, ao imaginarem a matéria de índole
religiosa. Depois, e imediatamente depois, ao representante de
Roma, que detinha o poder de resolver disputas surgidas quando
afetando o interesse do Império.
Essa
noção de que “toda pessoa detida tem
direito de ser conduzido, sem demora, à presença de uma
autoridade julgadora” está presente em toda a história da
humanidade. Fazia parte do “common law” - direito costumeiro
ou consuetudinário, inserido no due
process of law (devido processo legal), sendo garantido
através de um instrumento jurídico conhecido até hoje pelo
nome de habeas corpus.
O
habeas corpus é, a partir da experiência medieval inglesa, um
instrumento de garantia da liberdade de locomoção, mediante o
qual se obtém o relaxamento imediato de qualquer prisão
ilegal. Em sua origem, todos homens livres (não escravos)
tinham o direito a pleitear um habeas corpus ad subjiciendum, dirigido contra o responsável por
sua prisão, obrigando este a levar o prisioneiro em pessoa à
presença de um juiz ou de uma corte, de modo que esta ou aquele
pudesse examinar o caso, e relaxar a prisão, caso fosse ilegal.
Nossa
Constituição Federal de 1988, avançada em muitíssimos
aspectos de garantias fundamentais da liberdade do cidadão,
disse menos que essas garantias históricas. Limitou-se a
afirmar que ‘a prisão
de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada” (art. 5o., inc. LXII).
É verdade que a Constituição quis que essa prisão fosse
imediatamente submetida a controle de legalidade pelo poder
judiciário. Tanto é que no inciso LXV desse mesmo artigo
proclama: “a prisão
ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária’.
Com
o reencontro do Brasil com a democracia e com o Estado de
Direito, tratados internacionais de direitos humanos foram
assinados e ratificados. E foram incorporados ao direito
brasileiro com a mesma força que qualquer lei federal, tais
como o Código de Processo Penal ou o Código Penal. Um desses
tratados é o “Pacto dos Direitos Civis e Políticos”,
aprovado pelas Nações Unidas em 1966, e que foi ratificado
pelo Brasil em 1992. O artigo 9, seção 3, desse Pacto,
assegura que “qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude
de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença
do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções
judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou
de ser posta em liberdade”. A “Convenção Americana de
Direitos Humanos” de 1969, também conhecida como “Pacto de
San José da Costa Rica, igualmente assinada e ratificada pelo
Brasil, e já incorporada, com status de lei federal entre nós,
proclama em seu artigo 7, seção 5, que “toda pessoa detida
ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um
juiz ou outra autoridade autorizada
por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser
julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem
prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser
condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em
juízo”.
As
normas são obrigações internacionais. Mas, ao mesmo tempo, são
garantias dos cidadãos, que podem ser invocadas em qualquer
instante. Seja qual for o motivo de sua prisão, há o direito
de se exigir ser levado à presença de um juiz, ou de uma
autoridade judicial, “sem
demora."
As
Nações Unidas, pelo seu Comitê de Direitos Humanos, não
decidiram nenhum caso, para examinar o sentido concreto da
expressão “sem demora”. Tampouco a Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Mas a Corte Européia de Direitos Humanos, que
examina artigo de mesmo teor, constante da Convenção Européia
de Direitos Humanos, examinou em vários julgamentos o sentido
da expressão ‘sem demora’.
O
primeiro dos casos julgados chama-se Lawless
v Ireland, e data de 1961. A Corte Européia entendeu que a
prisão ou detenção preventiva, ou provisória (antes da
condenação) tinha que ser entendida como um primeiro estágio
para que a pessoa fosse apresentada ao juiz.
E
no caso Brogan v UK (1988) a Corte Européia decidiu que a
pessoa detida deveria ser apresentada prontamente, e não se
adequava ao conceito de prontamente a apresentação com 4 dias
e 6 horas. Aliás, julgando anteriormente o caso McGOFF v Sweden,
a Corte já entendera que o intervalo de 15 dias entre a prisão
do interessado e sua apresentação ao Juiz não atendia às
exigências de “prontamente” contida no artigo.
É
evidente que esses casos não vinculam o Brasil. Mas são provas
certas de que países democráticos como a Suécia, o Reino
Unido, e a Irlanda precisaram adaptar-se às exigências de suas
obrigações internacionais, garantindo aos presos e detidos a
apresentação imediata a
um juiz, para examinar sobre sua permanência em custódia, ou o
relaxamento da prisão.
O
fato é que, inobstante o Pacto dos Direitos Civis e Políticos
já estar em vigor há mais de 6 anos, permanece desconhecido e
desrespeitado. Os delegados desconhecem seu dever de apresentar.
Os juízes desconhecem seu dever de exigir. Os promotores
desconhecem seu dever de fiscalizar. Os advogados desconhecem
seu dever de peticionar.
Entretanto,
esse direito fundamental de cada cidadão preso, que se
constitui dever de cada autoridade policial é dos mais fáceis
de ser respeitado. Para desincumbir-se desse dever, basta cada
delegado chegar à presença do juiz com o preso ou detido e
dizer simplesmente: eis o homem!
Liberdade
de expressão
Verdadeiro
fundamento da democracia, a liberdade de expressão é pré-requisito
de toda ordem jurídica fundada em um Estado de Direito. A
liberdade de expressão inclui a liberdade de ter opiniões e de
manifestá-las verbalmente ou por escrito, ou de modo artístico,
por qualquer meio ou veículo de comunicação.
A
Corte Européia de Direitos Humanos contribuiu enormemente para
clarificar o conceito de liberdade de expressão, e as circunstâncias
em que a mesma passa a merecer proteção do Estado, como
garantia do cidadão. Não se está sugerindo que as decisões
da Corte Européia sejam vinculantes, e os órgãos do Poder
Judiciário brasileiro lhes devam obediência. Entretanto, como
o artigo 10 da Convenção Européia de Direitos Humanos tem o
mesmo sentido e praticamente a mesma redação que o artigo 19
do Pacto dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, e
este, por sua vez, com redação distinta mas com sentido
assemelhado, vem contido no artigo 5o., incs. IV e IX, da
Constituição Federal de 1988, sua interpretação pode
iluminar a interpretação que possa ser extraída dos textos
aplicáveis ao direito brasileiro.
A
significação e a abrangência da liberdade de expressão foram
definidas em um caso marcante, conhecido como Handyside v The
United Kigdom. A Corte Européia entendeu que
"A
liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais
de uma sociedade democrática, uma das condições básicas para
seu progresso e para o desenvolvimento de cada homem. Sem prejuízo
do contido no artigo 10 (2), ela é aplicável não somente a
'informações' ou 'idéias' que sejam favoráveis ou
consideradas inofensivas ou recebidas com indiferença, mas também
àquelas que ofendem, chocam ou perturbam o Estado ou qualquer
setor da população. Tais são as exigências do pluralismo, da
tolerância e da abertura intelectual, sem os quais não há
sociedade democrática".
Avançando
nessa definição, o passo seguinte dado pela Corte Européia
foi tentar identificar quando a crítica se excedia e se
convertia em violação ao direito de outrem, a merecer restrições
por parte do Estado. Foi necessário distinguirem-se, portanto,
situações em que as partes envolvidas desempenhavam funções
públicas - ou sujeitas a escrutínio público -, e atividades
privadas. O certo é que, julgando o caso Lingens vs Austria, a
Corte Européia deliberou no sentido de que "os limites
para a crítica aceitável são mais amplos, tratando-se de políticos,
que quando relacionada com particulares, e a exigência de proteção
da reputação dos outros tem de ser pesada contra os interesses
de se ter uma discussão aberta sobre questões
políticas."
Esse
entendimento da Corte Européia foi aplicado em caso subseqüente,
Thorgeirson v. Iceland, tratando especificamente de situação
em que policiais, da Islândia, foram genericamente acusados de
envolvimento em
brutalidade contra pessoas detidas. Para a Corte, "os
limites da crítica permissível com relação à matéria de
interesse público não são mais estreitos que os limites
aceitos com relação a discussão política".
O
caso decorreu de publicação de artigo jornalístico, em que se
informavam fatos em que a polícia se houvera com injustificável
violência, sendo que uma das situações fora vivenciada pelo
próprio jornalista. Foi entendimento dos membros da Comissão
de Direitos Humanos que o artigo dizia respeito a assunto de
grande interesse público e que tinha um objetivo sério, i.e.,
promover um novo sistema de investigações de acusações
contra a polícia. Tendo em vista os princípios gerais
referidos, seguiu-se
que qualquer interferência com declarações desse porte
deveriam ser submetidas a restrições particularmente limitadas
de modo a não desencorajar o público de manter um controle crítico
sobre o exercício do poder público.
Esses
precedentes internacionais, ao tempo em que apontam para o
acolhimento do mais amplo respeito à liberdade de expressão,
igualmente indicam que os limites a tal liberdade devem ser
restritos, quando se tratar de matéria de interesse público
relevante. A contrário senso, quando a parte lesada for o
particular, em suas relações particulares, deve estar menos
sujeito a escrutínio público, tendo o direito a ter sua vida
privada, sua intimidade, sua honra e sua imagem menos submetidas
à exposição pública.
O
Supremo Tribunal Federal tem evoluído em sua jurisprudência,
procurando acompanhar os avanços internacionais. E, embora em
matéria específica de liberdade de imprensa não tenha, ainda,
uma contribuição do relevo dessas manifestadas pela Corte
Européia, tem oferecido seu novo entendimento, em julgados
variados. Decidindo Recurso em Habeas Data (RHD 22/91-DF, julg.
19.9.91, TP, Rel. Min. Celso de Mello), por exemplo, proclamou:
"A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres
individuais e coletivos, enunciou preceitos básicos, cuja
compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática
como um regime do poder visível. O modelo político-jurídico,
plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que
oculta e o poder que se oculta. Com essa vedação, pretendeu o
constituinte tornar efetivamente legítima, em face dos destinatários
do poder, a prática das instituições do Estado".
Mas
gritantes violações ocorrem, especialmente por conta de leis
extravagantes, de que são exemplo as editadas nos períodos
eleitorais, limitando o debate público, e malferindo o democrático
exercício da crítica
Discriminação
O
Brasil tem um gosto curioso por transformar em crimes as
condutas que rejeita, ou que entende não devam se constituir no
padrão de conduta. Nesse gosto, por transformar tudo em crime,
termina banalizando os crimes, e evitando a imposição dos
castigos.
Com
a questão referente à discriminação não foi diferente. Em
1951 foi festivamente saudada a “Lei Afonso Arinos”, que
considerava contravenção penal a recusa de atender clientes,
freguês ou estudante em estabelecimento educacional, comercial
ou hoteleiro, em razão de preconceito de raça ou cor. Nova lei
foi promulgada em 1989 (Lei 7716, de 5 de Janeiro de 1989),
transformando as então contravenções em crimes. A lei
encontra-se em vigor até hoje, com pequenas alterações
introduzidas pela Lei 8.081, de 21 de Setembro de 1990, e pela
Lei nº 9.459, de 13.05.97. A lei estabelece punições para a
prática de crimes decorrentes de preconceitos de raça ou cor.
E são punidas as condutas de impedir acesso a cargo público;
negar emprego em empresa privada; recusar aluno em
estabelecimento público ou privado; recusar hospedagem em
hotel, pensão, ou assemelhado; etc., quando decorrente de
preconceito de raça ou cor.
Não
se tem conhecimento de casos submetidos a tribunais brasileiros,
versando sobre crime decorrente de preconceito de raça ou de
cor que tenham sido condenados os agressores. Casos catalogados
do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul revelam a
inconsistência e a ineficácia da atual lei, que pune o
preconceito e a discriminação. Julgando o processo 338049/93
(RJTMJS 90/156), aquele Tribunal decidiu: “O fato de o agente,
no auge e no calor de uma discussão, em repulsa a uma atitude
ofensiva, quando quase chegam a entrar em luta corporal,
proveniente de desentendimento por falta de um produto, chamar
seu cliente, a quem sempre atendeu bem, de negro, neguinho, ou
preto, e pedir-lhe para acabar com a confusão, que se retirasse
da loja, onde havia vários fregueses, o que também foi dito ao
companheiro branco, participante do desentendimento, não
configura o delito previsto no art. 5.
da lei 7716/89”.
É verdade que o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo
condenou de discriminação. Mas o crime de que foi acusado foi
desacato, e não preconceito de raça ou cor. O acórdão dizia:
“incorre nas penas do art. 331 [desacato] do CP, o agente que discrimina funcionário público pela cor,
raça ou credo, ofendendo a dignidade ou decoro da função,
sendo irrelevante eventual pedido de desculpas”. (RJDTACRIM
Vol. 17/69 Janeiro/Março 1993).
Outra
dificuldade dessa lei contra a discriminação é que ela
“esquece” outras formas mais presentes e freqüentes de
discriminar: por ser mulher; por estar grávida; em razão da
idade; em razão da orientação sexual (por ser homossexual);
em razão da origem (preconceito contra “nordestinos” no
sul); em razão da religião (judeus, muçulmanos, umbandistas,
etc.); em razão da riqueza; em razão do grau de instrução.
Até em razão da beleza se discrimina.
A
Constituição veda expressamente qualquer forma de preconceito
ou discriminação, em razão de “origem, raça, sexo, cor,
idade, ou quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3o.,
inc. IV).
Mas,
afinal, o que é discriminação? A lei não define. Mas tal
definição pode ser encontrada em convenções internacionais,
subscritas e ratificadas pelo Brasil (e, portanto, com força de
lei entre nós). A primeira é a “Convenção Internacional
sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação
Racial”, de 1965, segundo a qual “a expressão ‘discriminação’
significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou
preferência, baseadas em raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou
restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo
plano (em igualdade de condição) de direitos humanos e
liberdades fundamentais no domínio político, econômico,
social, cultural, ou em qualquer outro domínio da vida pública”.
A Convenção sobre a eliminação da discriminação
contra a mulher acrescenta a expressão “com base na igualdade
do homem e da mulher”.
Mas
nem toda diferenciação significa discriminação. Relevante é
considerar que fatores objetivamente postos procuram justificar
o critério adotado para a diferenciação. A justificação tem
que ser objetiva e razoável, e os meios empregados
proporcionais aos objetivos legítimos visados. Se os objetivos
não forem legítimos; se a diferenciação não for razoável,
nem os meios empregados proporcionais, então há discriminação.
O
Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu esse raciocínio,
embora a decisão, por enormemente vaga, mereça ser lida com
reservas. Julgando o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
(ROMS) 5151/94-RS (Relator o Ministro Vicente Cernicchiaro),
proclamou: “Não se pode distinguir pessoas por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil. Todavia, se a função pública,
por exemplo, for recomendada, por particularidade, ser exercida
só por pessoas do sexo masculino, nenhuma censura. O raciocínio
é válido também para as mulheres. Ocorre o mesmo com a
idade”.
O
mesmo STJ repudiou,
por discriminatória, a proibição de participação de
mulheres em concurso público para a função de médica, mesmo
que da Polícia Militar (RESP 6519/90-RJ). Mas achou justificável
proibir acesso de mulheres a postos da Polícia Militar, quando
existentes separados quadros masculino e feminino (o Tribunal
sequer examinou se o número de vagas no quadro masculino era
correspondente ao número de vagas no quadro feminino) (ROMS
1160/91-RJ).
O
Tribunal Superior do Trabalho tem proferido importantes decisões,
combatendo a discriminação. No Recurso Ordinário em Dissídio
Coletivo 0105858/94 invalidou cláusula de Sentença Normativa
que excluia os empregados menores do direito ao piso salarial.
A
igualdade na lei proíbe discriminação de qualquer espécie,
enquanto a igualdade de fato pode envolver a necessidade de
tratamento diferenciado de modo a obter o resultado que
estabelece o equilíbrio entre situações distintas. Isso também
é chamado de “ação afirmativa”, ou “discriminação
positiva”. Entre nós já é aplicável através da legislação
trabalhista, que favorece as mulheres.
O
Tribunal Superior do Trabalho, julgando o Recurso de Revista
48478/92-PR (DJ 19.8.94, p. 21009), entendeu que “o artigo 383
da CLT se dirige à proteção da mulher. A natureza não fez
homens e mulheres iguais: a desigualdade é visível e não
poderia ser modificada por simples vontade do legislador.(...)
Sendo claro que a constituição física, emocional e psicológica
das pessoas do sexo feminino difere daquela inerente as do sexo
masculino, é um imperativo de justiça que o tratamento dado em
relação às mulheres, pela legislação trabalhista, seja, em
alguns aspectos, diferente do que é dado aos homens”.
O
Comitê para Eliminação da Discriminação Racial, no seu 49o
período de sessões, examinou relatórios apresentados pelo
Brasil, sobre as medidas tomadas, em observância aos
regramentos da Convenção respectiva. Nos Comentários finais,
os membros do Comitê apontaram como principais motivos de
preocupação os seguintes fatos:
“Os
dados estatísticos e qualitativos relativos à composição
demográfica da população brasileira e ao desfrute dos
direitos políticos, econômicos, sociais e culturais publicados
no informe do Estado parte demonstra, de maneira evidente, que
as comunidades indígenas, negra e mestiça sofrem desigualdades
profundas e estruturais e que as medidas adotadas pelo Governo
para combater eficazmente essas disparidades continuam sendo
insuficientes.
“
Se toma nota de que o informe não contém dados sobre os
‘indicadores’ das dificuldades especiais que enfrentam, no
plano social, as populações mais vulneráveis, em particular
as populações negras, indígena e mestiça.
“Segundo
diversas fontes de informação coincidentes, as atitudes
discriminatórias a respeito das comunidades indígenas, negra e
mestiça persistem na sociedade brasileira e se manifestam em
diversos níveis da vida política, econômica e social do país.
Essas atitudes discriminatórias concernem, entre outros, ao
direito à vida e à segurança das pessoas, à participação
política, às possibilidades de acesso à educação e ao
emprego, ao acesso aos serviços públicos básico, o direito à
saúde, o direito a uma moradia digna, a propriedade da terra, a
utilização do solo e a aplicação da lei.
“(...)
O fato de que os cidadãos analfabetos das populações indígena,
negra e mestiça ou de outros grupos vulneráveis não podem ser
candidatos nas eleições política não se ajusta ao espírito
do parágrafo ‘c’ do artigo 5 da Convenção”. (27/09/96.
CERD/C/304/Add.11).
A
opção do Estado brasileiro em atuar na superação da
discriminação unicamente com medidas de repressão de índole
criminal se mostram inadequadas e insuficientes. Disto decorre a
persistência das desigualdades, que se evidenciam, como notado
pelo Comitê, nos indicadores sociais. Por isso se diz que ainda
há muito o que fazer para garantir a igualdade na lei e nos
fatos.
Direitos
Sociais
Habitação
Istambul
sediou em junho conferência internacional, promovida pela
Organização das Nações Unidas - ONU, para discutir como
vivem os habitantes do planeta Terra. Melhor dizendo, como e
onde moram . O
encontro já foi crismado de Habitat
II - Cúpula das Cidades. Programas especiais, objetivando
examinar as soluções utilizadas para melhorar a qualidade de
vida em centros urbanos, tendo como critérios eficiência
na reabilitação de áreas degeneradas, uso de desenvolvimento
sustentado e grau de inovação, foram selecionados pela
organização do evento. Entre os 12 melhores programas do
mundo, por tais critérios, figurou um de revitalização
de favelas, desenvolvido em Fortaleza (CE), concebido por 2
entidades não-governamentais: Cearah Periferia e Gret (Grupo de
Pesquisas e Intercâmbios Tecnológicos).
A
Constituição brasileira de 1988 não prevê expressamente um direito
à moradia, embora estabeleça como dever do Estado, nas
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico” (CF, art. 23, IX).
Esse
dever de construir moradias certamente decorre de ter o Estado
brasileiro, como fundamentos, “a
dignidade da pessoa humana” (CF, art. 2o., III), e como
objetivo “construir uma
sociedade justa e solidária”, “erradicar
a pobreza”, e “promover
o bem de todos” (CF, art. 3o., incs. I e III). Dito de
outro modo, e mais específico, pela primeira vez uma Constituição
previu critérios para uma política
urbana, a qual, segundo o artigo 182, objetiva ordenar o
pleno desenvolvimento “das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes”. Mas o Brasil ratificou
o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, publicado pelo
Decreto 591/92, que tem força de lei.
Seu artigo 11 diz:
Artigo
11. Os Estados partes do
presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível
de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à
alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições
de vida. Os Estados partes tomarão medidas apropriadas para
assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse
sentido, a importância essencial da cooperação internacional
fundada no livre consentimento”.
No
seu artigo 11, o Pacto assegura,
portanto, um direito a um
nível de vida adequado, no qual expressamente se inclui um direito
a moradia adequada. Sendo um direito
econômico e social, que requer adoção
de políticas públicas e ações governamentais, o Pacto dispõe, no seu artigo 2o., que cada Estado parte se
compromete a adotar
medidas, principalmente nos planos econômico e técnico, até o
máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar,
progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício
dos direitos reconhecidos em tal instrumento internacional.
E
o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, criado pela
Resolução ESC 1985/17
do Conselho Econômico e Social, da ONU, adotou, em 12 de Dezembro de 1991, o Comentário nr. 4, sobre o Direito à Moradia Adequada,
no qual faz considerações
gerais, comentários e recomendações aos Estados partes,
signatários do Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
O
Comitê observa que o direito
à moradia adequada deriva do direito a um nível de vida
adequado, e é de importância central no gozo e fruição de
todos os demais direitos econômicos e sociais. Inicia lembrando
que os Estados se comprometem a (i) adotar medidas, por todos os meios apropriados,
principalmente nos planos econômico e técnico,
(ii) até o máximo de seus recursos disponíveis, (iii)
que visem a assegurar, progressivamente, o pleno exercício dos
direitos reconhecidos no Pacto.
Isso
faz surgir para o Estado parte o dever de conceber política
pública de produção e fomento à moradia, inclusive com
previsão orçamentária de investimentos na área.
Mas
também faz surgir uma obrigação
fundamental mínima , à qual se somam 4
níveis de obrigações governamentais: reconhecer,
respeitar, proteger e preencher (desincumbir-se).
Não
há necessidade de exame acurado do sentido e do alcance de cada
uma dessas obrigações. Mas importa realçar a obrigação
que cada Estado parte tem de respeitar
o direito à moradia dos
seus habitantes. Em publicação
destinada a esclarecer o conteúdo e alcance do direito
à moradia, o Comitê
de Direitos Econômicos e Sociais orienta: Respeitar
- “O dever de respeitar o direito à moradia adequada significa que os
Governos deveriam refrear qualquer ação que previna o povo de
satisfazer este direito por si próprio quando estiver apto a
fazê-lo. Respeitar este direito apenas exigirá abstenção do
Governo de certas práticas e um compromisso em facilitar as
iniciativas de auto-ajuda dos grupos afetados. Neste contexto,
os Estados deveriam desistir de restringir o pleno gozo dos
direitos de participação popular dos beneficiários do direito
à moradia, e respeitar o direito fundamental de organização e
reunião. “Em particular, a responsabilidade de respeitar o
direito à moradia adequada significa que os Estados devem se
abster de levar adiante, ou de qualquer modo advogar o despejo
forçado ou arbitrário de pessoas ou grupos’.
É
comum os municípios e
mesmo particulares ingressarem com Ação
de Reintegração na Posse, objetivando o despejo
coletivo de famílias de ocupantes de áreas urbanas.
Normalmente tal se dá sem que se assegure a cada um dos
ocupantes o direito de, por si próprio, ser chamado ao
processo, para se defender. O mais grave, contudo, é que quando
a Justiça concede medida liminar de reintegração, a ser cumprida com auxílio de força
policial, provoca uma direta violação
ao dever de se respeitar o direito à moradia dos ocupantes,
previsto no artigo 11 do Pacto
sobre os Direitos Econômicos e Sociais .
O
Pacto considera o direito à
moradia como decorrente do direito
a um padrão de vida adequado. E o direito
à moradia como incluído no direito
à vida já foi
examinado pela Suprema Corte da Índia, em caso muito
assemelhado aos que se vivem no Brasil (São Paulo, Rio, mas
também Campina Grande e João Pessoa). O artigo 21 da Constituição
da Índia dispõe que “ninguém
será privado de sua vida nem de sua liberdade pessoal sem o
devido processo legal”, e corresponde ao artigo 5, inciso
LIV, da nossa Constituição de 1988 (“ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”).
No
caso examinado pela Suprema Corte em 1985 (“Olga Tellis v
Bombay MC”), moradores de favela e de barracos situados em ruas resistiram
à demolição de suas habitações, obstruindo o trabalho da
municipalidade. A recusa fundamentava-se na alegação de violação
ao seu direito à vida, desde que com a demolição eles
estariam vendo retirado seu direito à sobrevivência. A Suprema
Corte admitiu que se os moradores fossem privados de suas
moradias, também perderiam os meios de sua sobrevivência, pois
tendo empregos mal remunerados tinham a necessidade de moradia
próxima e barata. Também decidiu que o direito à vida é
amplo e abrangente. Não se poderia viver sem os meios de vida
(de sobrevivência). Se o direito `a vida não incorporasse o
direito à sobrevivência, então o modo mais simples de privar
alguém do seu direito à vida seria privando-o de sua subsistência.
Por fim, entendeu que o Estado não poderia ser obrigado a
garantir a todos um meio de vida. Mas quem quer que estivesse
sendo privado do seu meio de vida, exceto de acordo com um
procedimento legal justo e razoável, poderia lutar em sua
defesa, amparado no seu direito à vida.
A
interpretação dada pelos membros da mais Alta Corte de Justiça
da Índia pode inspirar o jurista brasileiro, quanto ao conteúdo
e extensão do direito à vida.
É
preciso que se diga que o Poder Judiciário brasileiro é capaz
de extrair tal entendimento. O Supremo Tribunal Federal examinou
situação em que se contestava o poder do Estado de realizar desapropriação
para construção de
moradia popular. A notável decisão, proferida no RE
25546/55, foi ementada nos seguintes termos: “A
Constituição de 1946, no intuito de facilitar a intervenção
do Estado, em benefício do povo, ampliou os casos de
desapropriação prescritos no Dec. 3.365, de 1941, e no Código
Civil, permitindo-a, também, por motivos de interesse social.
Ajusta-se a esse critério a que houver sido decretada para
obras destinadas a suprimir as favelas e construção de casas
higiênicas adequadas à habitação de pessoas menos
favorecidas da fortuna”.
Por
outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso de desocupação
forçada de imóvel funcional, considerou a interdependência entre os direitos fundamentais, incluindo os direitos
de sobrevivência de toda uma família, e brilhantemente
proclamou: “A proteção
à família, por parte do Estado, é mandamento constitucional.
A ninguém é dado retirar de um pai de família a condição de
sobrevivência” (MS 1721/92-DF)”.
Os
ocupantes de espaços urbanos vazios têm consigo o desejo de
lutar por um espaço de moradia,
para edificarem suas habitações. Para tanto, contam com suas ajudas recíprocas,
e com seu próprio esforço. Têm em seu amparo mais que boa
fé. Têm o direito à moradia. Naquele lugar, enquanto outro adequado
não lhes for oferecido. E têm o direito
à retenção pelas benfeitorias realizadas. A esse
respeito, o TRF 2a. Região, examinando a AC 02.21312/90-RJ,
decidiu: “Reintegração
de Posse. Embargos de retenção por benfeitorias. Consistindo a
benfeitoria em casa de
moradia, destinada a dar teto e assegurar a unidade familiar, há
que atribuir-lhe a natureza de benfeitoria necessária, à luz
do imperativo constitucional insculpido no art. 6, da nova Carta
Magna e à luz da função social da propriedade, cristalizada
no art. 5o., XXIII, daquela Lei maior.”
Agora,
é preciso vencer o preconceito
de considerar todo ocupante de áreas vazias como invasor,
a cujo conceito é logo acrescentado serem as
invasões feitas por profissionais apenas para ganhar dinheiro.
Pode ser que sim. Pode ser que não. A separação do joio do
trigo só pode ser feita pelos órgãos da área social e de
habitação dos Estados e Municípios. Cadastrando e catalogando
as situações de ocupações, e identificando casos de
duplicidade. Isso implica em dizer que a questão de tais ocupações
é acima de tudo uma questão
social, a ser enfrentada por assistentes
sociais, e não por policiais, chamados ao cenário a
pretexto de cumprirem ordens judiciais.
O
pressuposto é que o Estado (nas 3 esferas) é obrigado a
promover moradias, e a realizar esforços para regularização
fundiária. No próprio local da invasão, ou em local
alternativo, que seja salubre e adequado.
E,
ainda quando viável a Ação
de Reintegração na Posse contra os profissionais
de invasões, é preciso respeitar o devido
processo legal, com garantias de contraditório
e ampla defesa.
Assim,
e por considerar que a sistemática atual de generalizado uso da
Ação de Reintegração implica
em despejo coletivo, e
é clara e direta violação ao direito dessas família à
moradia, a recomendação que se faz ao Estado e aos Municípios é que se
abstenham de levar adiante o despejo
coletivo dos ocupantes de áreas
invadidas, enquanto não assegurados
o devido processo legal, com ampla
defesa e contraditório, mediante regular
citação de todos os interessados; se
abstenham de levar adiante o despejo
coletivo enquanto não conferida alternativa de moradia
adequada para os ocupantes das casas hoje ali implantadas; se
abstenham de levar adiante o despejo
coletivo enquanto não forem previamente indenizados os
ocupantes, pelas benfeitorias ali realizadas - necessárias,
posto que para moradias próprias -, dispensadas as indenizações
em caso de autorização de remoção dos materiais construtivos
e outros, para o novo local. Todas as condições são
necessárias, e nenhuma suficiente isoladamente.
Direito
à reforma agrária
A
paz deve ser conseguida através da justiça. Tais palavras proféticas
de Isaías ainda hoje ressoam entre nós. Quando os noticiários
dos jornais de todo o país são povoados de notícias de ocupações
de terras por trabalhadores rurais despossuídos (os
“sem-terra”), e a invariável invocação do direito de
propriedade, a ensejar processos judiciais de sua retirada,
sempre com requisição da polícia, é imperioso analisar se há
justiça no campo. E se a paz, ora pretendida, é a paz das
armas, ou a paz da conciliação.
Tenho
comigo o sentimento de que na raiz da discussão falta compreensão
de que quando trabalhadores rurais - sem terra, sem teto, sem
emprego e renda - decidem pela ocupação pacífica de fazendas,
seguem precisamente em busca da satisfação de todas essas
necessidades básicas, que são condições essenciais à própria
vida, posto que oferecem-lhes as condições de subsistência.
Entretanto, a resposta que os aplicadores da lei hoje vêm dando
à questão ainda está baseada nas regras particulares e
privadas do direito civil, com base nos princípios vigentes no
início do século, sem que tivessem recebido as luzes, inspiração
e interpretação da Constituição de1988, ou dos tratados
internacionais de direitos humanos, ratificados pelo Brasil, e
com força de lei entre nós.
É
preciso distinguir as situações em que um proprietário invade
a terra do seu vizinho, procurando ampliar os limites de sua
fazenda, daquelas situações de ocupações por cidadãos que só
possuem de seus as noites e os dias, porque isso é o que Deus
lhes dá gratuitamente. Dizendo de outro modo, é preciso
publicizar, reconhecer como sendo de interesse público, as
situações de ocupação de imóveis rurais pelos trabalhadores
sem-terra, de modo a fazer intervir, na causa e nos fatos, mais
que a presença do Estado-Juiz ou Estado-Polícia. Fazer
intervir o Estado agente social, pelo órgão ou setor que cuide
de democratizar o acesso à terra. Em termos concretos, é
preciso chamar o Incra, para conhecer, acompanhar, cadastrar, e
promover as condições materiais de solução do problema
social.
O
modo atual de tratamento da questão é necessariamente
conflitogênico. Cria mais problemas que soluções. Quando
ocorrem ocupações, o proprietário do imóvel apressa-se a
ingressar em juízo contra “apelidos” que ouviu, ou que
imagina, ou que cria. Para a ação nunca são citados todos os
ocupantes, muito menos o são pelos seus nomes. A justificativa
simplista é de que seus nomes não são conhecidos, e,
portanto, não se deve impor ao proprietário o ônus de revelá-los.
O juiz ou juíza determina que seja devolvida a posse ao
proprietário (determina a reintegração na posse), através de
uma ordem que não vai ser cumprida por quem a proferiu, mas
pela polícia. E vai ser cumprida contra quem estiver no campo
de visão do policial, isto porque ninguém é individualizado
na ordem judicial.
As
conseqüências são tremendas no campo social, desbordando para
o campo penal. Uma vez expedida essa ordem genérica de despejo
coletivo e forçado, quem quer que ouse por os pés naquela
propriedade passará a responder pelo crime de desobediência. E
os noticiários dos jornais são fartos em situações do gênero.
Ora,
o crime de desobediência pressupõe o descumprimento de uma
ordem individualizada, direta, precisa, circunscrita. Decisão
judicial genérica mais se aproxima de lei. E seu eventual
descumprimento, por quem não é parte no processo, não implica
crime de desobediência. Muito embora outras figuras delituosas,
criminosas, possam ser apresentadas.
O
modelo ora utilizado fere as regras básicas do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo qualquer
processo contra terceiros prejudicados. Tudo isso direito
constitucional fundamental. E fere também o princípio básico
de direito humano de cada um ter reconhecida sua condição de
pessoa humana, per si.
Não
estou advogando nem defendendo a ocupação de fazendas. O
direito de propriedade é também considerado um direito
fundamental desde a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, na França. E consta da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, das Nações Unidas, de 1948.
Também é garantido o direito de propriedade em todas as nossas
constituições.
Mas
a Constituição de 1988 inovou profundamente. Ao tempo em que
reiterou tal direito à propriedade, introduziu nesta um
elemento novo: o atendimento à sua função social. E, para as
propriedades rurais, atender à sua função social implica ser
objeto de um desenvolvimento sustentável, humana e
ecologicamente equilibrado. Produzir bens e serviços, com
exploração racional dos recursos naturais e humanos. Por isso,
não cumpre a função social a propriedade rural que não é
explorada; ou a que degrada o meio ambiente; ou aquela em que os
trabalhadores não têm reconhecidos ou satisfeitos seus
direitos trabalhistas.
Quando
a propriedade rural não cumpre sua função social, o proprietário
pode ser punido com a desapropriação por interesse social para
fins de reforma agrária. Isto não quer dizer confisco, tomada
do bem sem indenização. Há indenização. Mas esta se faz em
títulos da dívida agrária, com pagamentos que vão de 2 a 10
ou mais anos. E as chamadas benfeitorias - casas, construções,
plantios, etc., são pagas em dinheiro.
A
propriedade produtiva, que atenda sua função social, não pode
ser punida e desapropriada com indenização paga em títulos da
dívida agrária. Mas pode ser adquirida por compra, ou
desapropriada por interesse público, com pagamento em dinheiro.
Se
existe uma obrigação do proprietário particular em respeitar
a função social de sua propriedade, e se existe uma obrigação
do Estado em fiscalizar o cumprimento de tal obrigação,
inclusive com a possibilidade de imposição da desapropriação-sanção
(punição), existe também, por parte dos trabalhadores
sem-terra, e em benefício de toda a sociedade, o direito à
reforma agrária.
A
reforma agrária traz como pressuposto a democratização do
acesso à terra, o aumento da produção, a diminuição da fome
e do desemprego, o retorno ao campo dos desempregados urbanos
sem-teto. Todas as nações democráticas experimentaram modos
de reforma agrária. O Japão foi profundamente modificado, por
iniciativa dos Estados Unidos, no pós-guerra. E a Rússia e o
Vietnã, que se democratizam, substituem o sistema da
propriedade coletiva pertencente ao Estado, implementando uma
reforma agrária que se faz concedendo terras do Estado aos
particulares. No Brasil, o Governo já oferece algumas de suas
terras, e o próprio Exército colabora com esse esforço. Mas
ainda é preciso fazer a reforma agrária mediante desapropriação
por interesse social das terras particulares que não cumpram
sua função social, ou por compra ou desapropriação por
interesse público das demais, que sejam necessárias para
trazer paz ao campo. Paz, não pelas armas, mas pela semente da
justiça. Entretanto, os fatos correm em outra direção.
O
curioso no tratamento atual da questão é que o conflito pela
posse da terra vem se instalando a nível local, sendo julgado
pela Justiça Comum Estadual. E o INCRA só tem intervindo na
fase da desapropriação, que tramita perante a Justiça
Federal.
A
idéia de publicização da questão do conflito pela posse da
terra impõe mudança de perspectiva, a qual deve considerar o
interesse do INCRA, surgindo a partir mesmo da instalação do
conflito. Isso equivale a dizer que quando famílias de
agricultores sem terra ocupam propriedades de particulares, e os
proprietários ingressam na Justiça Estadual com ações
possessórias, deve o INCRA ser chamado a integrar a lide, para
de logo contribuir para a solução do problema social. E o
interesse do INCRA é evidente. Quem pode desapropriar para por
fim a um conflito ou área de tensão, pode intervir para
prevenir que o conflito se instale, ou assuma desdobramentos
irreparáveis ou de difícil reparação. Dizer o contrário
seria entender, por exemplo, que a polícia pode agir para punir
os criminosos, mas não poderia intervir para prevenir os
crimes.
A
ação preventiva do INCRA é tão salutar quanto a própria
intervenção do Poder Judiciário, desde que, através deste, a
matéria passa a ser tratada de modo mais despolitizado e
isento. A presença do INCRA não impede que os Juízes e Juízas
concedam medidas liminares. Mas a concessão destas pode ser
diferida até que o INCRA (num curto tempo fixado pela Justiça)
apresente a relação das famílias a serem necessariamente
citadas para o processo (como garantia do contraditório, do
devido processo legal, e da ampla defesa), e apresente proposta
de assentamento provisório - em algum outro imóvel já
desapropriado pelo INCRA, ou naquele imóvel ocupado, mediante
ressarcimento pela ocupação.
Reconhecer
a legitimidade do INCRA, para intervir em medidas possessórias
e reivindicatórias, entre particulares, não é isento de
dificuldades. Mas o Supremo Tribunal Federal, em julgado de 1985
(RE 103401/PR, Relator Ministro Francisco Rezek), já apontava
para tal possibilidade, embora lembrando que “ simples
manifestação de interesse do Incra não é bastante para
determinar a competência da Justiça” . O Superior Tribunal
de Justiça, nas primeiras decisões sobre o tema, vacilou em
reconhecer interesse do Incra em possessórias. Mas a partir de
1992 firmou o reconhecimento desse interesse, com conseqüente
deslocamento da competência para a Justiça Federal. No
Conflito de Competência 2311/91-GO, Relatado pelo Ministro Dias
Trindade, o STJ decidiu: “ Conflito de competência; Ação
possessória. Interesse de autarquia federal. Compete ao juízo
federal decidir sobre o interesse manifestado por autarquia
federal, no sentido de figurar como assistente de uma das partes
em litígio” . E no Conflito de Competência 6573/MG-93 - ação
possessória em tramitação em comarca de Minas Gerais (Relator
o Ministro Costa Leite), esse Tribunal também proclamou:
“Competência. Conflito. Autarquia Federal. Figurando o INCRA
na relação processual, na qualidade de assistente, firma-se a
competência do juízo federal. Conflito conhecido” .
A
presença do INCRA nas ações possessórias pode ser fator de
solução pacifica dos conflitos, sem necessidade de chamamento
de força policial. Mas a paz na terra não depende somente da
justiça do Poder Judiciário ou do INCRA. Requer atuação
consentânea dos proprietários rurais, e dos próprios
trabalhadores sem terra. O maior fator de inquietação dos
proprietários rurais é a ameaça - real às vezes, imaginária
no mais das vezes -, de uma invasão de suas fazendas. E tal
temor beira a indignação, quando a propriedade em tela for
produtiva. Têm razão, nesse aspecto, se a propriedade é
produtiva, cumpre sua função de produzir alimentos (ou outros
produtos) e de gerar emprego e renda. E ainda que não estejam
sendo inteiramente respeitados os direitos trabalhistas - como
é a presunção dominante -, a solução imediata, em favor dos
trabalhadores, deve vir por intermédio de reclamações
trabalhistas, perante a Justiça do Trabalho.
A
propriedade produtiva não pode ser desapropriada por interesse
social para fins de reforma agrária. Mas pode ser desapropriada
por interesse público. A diferença é o modo de indenizar.
Nesta, toda a indenização é feita em dinheiro. Naquela, a
indenização é em títulos da dívida agrária para a terra
nua, e em dinheiro para as benfeitorias úteis e necessárias.
Aqui, novamente o papel do INCRA é fundamental.
Ao
INCRA a lei confere a prerrogativa de realizar vistoria prévia
(com notificação ao proprietário), para identificar o imóvel
rural, em suas dimensões, qualidades do solo e vocação econômica,
atividade a que é destinada, grau de utilização e
aproveitamento, e relação das benfeitorias. Há necessidade de
indicação das pastagens, naturais e artificiais, da cobertura
florestal.
É
importante salientar que os Tribunais Regionais Federais, o
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal vêm
reconhecendo que, em matéria de desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária: 1. É imperioso notificar
previamente o proprietário, antes de realizar a vistoria; 2. A
presença de posseiros na área não implica na desvalorização
do imóvel; 3. Propriedade rural, cujo titular respeita
contratos de parceria e arrendamento de pequenos parceiros e
rendeiros, cumpre, neste particular, sua função social,
devendo a indenização dessas terras ser feita em dinheiro; 4.
Coberturas florestais (matas) devem ser indenizadas: em títulos
da dívida agrária, as de reserva florestal; em dinheiro, as de
exploração econômica; 5. A eficiência na utilização e
exploração da terra, o grau de respeito aos direitos dos
trabalhadores rurais, e mesmo a qualidade das habitações que
lhes são destinadas, devem ser levados em consideração, para
exame do cumprimento ou não da função social da propriedade.
A
reforma agrária é um direito, que deve ser promovido e
assegurado pelo Estado, através da implantação de um programa
de distribuição de terra para agricultores; Que pode ser
defendido pela iniciativa dos trabalhadores sem terra; Que deve
ser acompanhado por toda a sociedade, cujos conflitos podem ser
mediados pelo Poder Judiciário, para solucioná-los, não para
ampliá-los. Tudo isso, para que se possa aumentar a produção
de alimentos, diminuir a fome e o desemprego e para que se possa
ter paz na terra, com justiça no campo.
A
Reforma Agrária do Governo
Recebendo
em audiência o Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Papa João
Paulo II pediu que o governo brasileiro realizasse a reforma agrária
dentro da lei.
Fernando Henrique sentiu-se em estado de graça: pois é isto
mesmo que pretende: reforma agrária dentro
da lei. Parecia a Fernando Henrique que aqui no Brasil, os
seguidores do Papa, ou da Igreja do Papa (o que não é
necessariamente a mesma coisa) estivessem pedindo, ou exigindo
ou protestando não uma reforma agrária da lei, mas
fora-da-lei, violenta, abusiva, invasiva e invasora da
sacrossanta propriedade privada. O Presidente interpretou a
frase do Papa como sendo um “puxão de orelha” nos mais
exaltados defensores da reforma agrária, que pretendem forçar
o governo, através de pressões e ocupações de terra, a vê-lo
agir na direção da intervenção do Estado sobre a
propriedade, garantindo terra aos sem-terra, casa aos sem-teto,
trabalho aos desempregados, esperança aos desesperados, futuro
aos sem presente nem passado de vida digna.
A
lei. Ah, a lei! Ela existe desde 1964, trazida pelos militares,
e impunha a Presidentes como Fernando Henrique Cardoso a obrigação
de realizar a reforma agrária. Desde 1964 a lei reconhece a
necessidade de uma reforma agrária para promover “a melhor
distribuição da terra, mediante modificações no seu regime
de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça
social e ao aumento da produtividade” (Estatuto da Terra, art.
1o, § 1o. ). Dessa época vem o dever
legal do Estado de promover “gradativa extinção das formas
de ocupação e de exploração da terra que contrariem sua função
social”. Mais. “A implantação da Reforma Agrária em
terras particulares será feita em caráter prioritário, quando
se tratar de zonas críticas ou de tensão social”. É a lei.
Que já tem 32 anos de promulgada.
Mas
não é só esta lei. Há o Pacto dos Direitos Econômicos e
Sociais, aprovado por Assembléia Geral das Nações Unidas em
1966, e que se tornou lei, e obrigatória para os nossos
governantes, a partir de 1992:
“os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si e
sua família; (...) reconhecendo o direito fundamental de toda
pessoa de estar protegida contra a fome adotarão as medidas que
se façam necessárias para (...) aperfeiçoamento ou reforma
dos regimes agrários”. Há a Constituição de 1988, que
determina, de modo claro e preciso, o dever de o Estado realizar
desapropriação “por interesse social, para fins de reforma
agrária, do imóvel que não esteja cumprindo sua função
social” (art. 184).
Esses
direitos sociais, contidos em leis, constituições e
compromissos internacionais são exigíveis perante os órgãos
do Poder Judiciário. São muito mais que meras expectativas de
direito. São comandos concretos, que exigem um agir do Estado,
para desincumbir-se de seus compromissos. É evidente que tais
direitos não são garantidos imediatamente e para todos, a um só
tempo. São de ser gradativamente
implementados. Mas o gradativamente
implica adoção
de medidas concretas, consistentes e coerentes, que importem no
atendimento das demandas sociais. Qual o perfil histórico da
atuação do Estado na realização da democratização do
acesso à terra, e da realização do aperfeiçoamento e reforma
do regime agrário? Os dados disponíveis indicam que em vez de
ter havido uma democratização desse acesso à terra, houve
concentração de terra nas mãos de cada vez menor número de
pessoas. 5% das grandes propriedades na região Norte respondem
por 74% da área; 11% das propriedades da Região Centro Oeste
respondem por 73,6%. Essas regiões sediam os mais graves e bárbaros
conflitos pela posse da terra.
É
através da análise dos dados das terras desapropriadas, das
famílias assentadas, e dos conflitos resolvidos, ao longo dos
anos, que se pode verificar se o Estado tem se desincumbido ou não
de suas obrigações de realizar a reforma agrária imposta por
lei.
Sim.
É preciso que se faça a reforma agrária dentro da lei. Mas
hoje é o Estado brasileiro, e o Governo Federal os que estão
fora da lei. Para cumprir a lei, é preciso assegurar a terra
prometida!
Direitos
da Mulher
Celebra-se
no dia 8 de Março o dia
internacional da Mulher. É dia de luta, que preserva a memória
de outras lutas. Quem vê em perspectiva percebe que a vida da
mulher hoje continua tão difícil quanto sempre. Mas
indiscutivelmente seu papel na sociedade tem mudado, e o
ambiente doméstico e privado tem, em muito, sido substituído
pelas esferas públicas de atuação.
Tradicionalmente
o Estado só dedica às mulheres medidas de proteção à sua
face maternal, como responsável pela procriação, e posterior
criação dos filhos. Normas de índole trabalhista
asseguram-lhes licença maternidade, e autorizam-lhes afastar-se
para aleitamento. Algumas políticas públicas de saúde já
iniciam a preocupação com atendimentos pre-natais, e
acompanhamentos pós-partos,
visando ao monitoramento e prevenção das causas de mortalidade
infantil.
Inobstante
todo o avanço da legislação asseguradora dos direitos das
mulheres no Brasil, é possível dizer que existe no seio da
sociedade preconceito e discriminação contra as mulheres, no
modo de operacionalização do sistema de divisão do trabalho,
e na definição dos papéis públicos e privados que são
reservados aos homens e às mulheres. O que torna mais grave,
ainda, é a circunstância de tal tratamento ser provocado por
motivos religiosos ou de cunho cultural, fazendo homens e
mulheres não apenas diferentes, mas estas inferiores àqueles.
As
religiões - todas as religiões - reservam papéis subalternos
para as mulheres. Mesmo quando as elevam, nunca chegam a mesma
dignidade que os homens. E todas as religiões estabelecem a
mulher como sendo a sede - quase que a única sede - da honra da
família, tendo o homem como defensor e protetor daquela honra.
Este conceito, que se converte em preconceito, autoriza aos
homens maior liberdade de ação em todos os campos sociais, e
força e restringe a mulher a uma presença doméstica,
controlada, para “preservá-la” de riscos de ataques à sua
honra. Ou de tentações de fazê-lo.
A
imposição de maior permanência da mulher no recinto doméstico
repercute em toda sua vida pessoal e profissional. As mulheres,
que costumam ser melhores alunas, enquanto permanecem nas
escolas e academias, não têm podido alcançar os mesmos
resultados que os homens, nas carreiras profissionais. Não por
falta de capacidade ou competência. Mas pela necessidade,
imposta por questões culturais, de dividir-se entre a organização
da vida doméstica, e a estruturação da vida profissional.
Isto não significa dizer que, pontuadamente, algumas mulheres não
atinjam aqueles índices, ou não os superem.
Tem
havido mudanças. Estas são provocadas pela luta das mulheres
em ampliar seus espaços de trabalho, assumindo papéis públicos
- na iniciativa privada e nos órgãos governamentais -, que as
transformam em senhoras dos seus destinos, por serem
garantidoras das próprias condições de manutenção. Deixam
de depender economicamente dos seus homens ou maridos, e passam,
elas próprias, a colaborar ou definir seus próprios rumos.
Curiosamente, a resistência às mudanças é sentida não
apenas nos homens (alguns já modificam suas condutas, e aceitam
e até incentivam a luta pela igualdade material), mas também
nas próprias mulheres, algumas das quais internalizando,
perpetuando e reproduzindo a discriminação.
Há
ainda uma outra face - perversa e covarde - da discriminação
contra as mulheres. É a violência contra as mesmas praticada.
Dados oficiais do Governo brasileiro apontam para o fato de que
7 de cada 10 agressões praticadas contra mulheres o foram no
seu ambiente doméstico. Por pessoas do seu relacionamento
afetivo - maridos, namorados, pais, irmãos, e até mesmo
filhos.
A
questão é de proporções tão graves que houve a criação de
Delegacias da Mulher, com pessoal especializado no trato das
situações que vitimam as mulheres. Estatísticas de João
Pessoa, referentes ao ano de 1996, indicam que, em números
redondos, houve mais de 1.000 ocorrências policiais vitimando
mulheres. Mais de 600 casos de lesões corporais. 40 homicídios.
15 estupros. Dessas 1.000 ocorrências, apenas 40 se converteram
em inquéritos policiais, com perspectiva de identificação do
fato criminoso, e sua autoria. Não se sabe quantos desses inquéritos,
eventualmente, deram ensejo à formalização de denúncias,
muito menos quantas condenações judiciais foram proferidas.
Isto
se constitui, no plano nacional e internacional, uma das maiores
demandas dos movimentos em favor dos direitos das mulheres: o
reconhecimento de que a violência contra a mulher é grave
violação aos direitos humanos. Elas pedem proteção contra
essa violência, cobrando dos governos medidas concretas,
coibindo essa prática, e punindo os culpados.
O
Brasil assinou e ratificou a Convenção sobre a Eliminação de
todas as formas de Discriminação contra a Mulher, datada de
1979. Por este instrumento, o Brasil se obrigou a tomar medidas
apropriadas para modificar os padrões sócio-culturais de
conduta dos homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação
dos preconceitos e práticas discriminatórias, baseadas em idéias
de superioridade ou inferioridade dos sexos, ou em funções
estereotipadas de homens e mulheres. Isto se faz mediante educação
para a igualdade. Mas o mínimo e o mais urgente que se tem a fazer é ensinar aos homens o
que os poetas já proclamam há muito tempo: em mulher, não se
bate nem com uma flor!
Minorias
Expulsão
e morte dos Potiguara
5
de Agosto. Festa das Neves em João Pessoa. Data oficial da
conquista da Paraíba e fundação da cidade. Mais
adequadamente: data em que a expedição oficial do governo da
Espanha - dominando a Coroa do Reino de Portugal - conseguiu
fazer pazes com o chefe Tabajara Piragibe, o “Braço de
Peixe”, e, com isso, dividir as forças de resistência dos índios
Potiguara. Mais uma vez celebra-se a conquista feita pelos
portugueses. Mais uma vez esquecem-se os índios desterrados. A
luta não para. Ontem, o propósito fora de colonizar o país.
Hoje, garantir seu desenvolvimento. Lá e cá os índios à
margem da história e do seu destino. De sagrado quase nada se
comemora. O profano prevalece. Mesmas barracas, mesmo ar de
quermesse, mesmo incenso de churrasco, e maçãs carameladas,
convidando todos ao pecado da gula.
Cada
celebração de fundação de uma cidade é a celebração de
uma ferida que se abre na memória dos índios mortos e
dizimados.
A
conquista da Paraíba se deu para garantir os engenhos de açúcar
de Pernambuco. Foi investida política da Coroa da Espanha, com
objetivos políticos e econômicos. O preço: expulsão e morte
dos índios Potiguara.
Frei
Vicente de Salvador, historiador desse período colonial, narra
um episódio que provocou guerra entre Potiguara e portugueses.
Um pernambucano chegou à aldeia da Copaoba (Serra da Raiz), se
fez hóspede do chefe índio Iniguaçu, e pediu sua filha, de
apenas 15 anos, em casamento, prometendo que haveria de viver
ali, entre os índios. Foi consentido o casamento. Retornando de
uma caçada, poucos dias depois, o pernambucano tinha ido
embora, levando a filha do chefe Ininguaçu. O chefe despachou
seus filhos para tratar da matéria com Antônio de Salema,
corregedor em Pernambuco. Este deu razão aos índios, e
determinou a devolução da moça. Na volta, um certo Diogo
Dias, em Itamaracá, manteve a moça detida, querendo incorporá-la
a seu harém. De nada valeram as reiteradas solicitações do
chefe índio, fazendo o capitão-mor vistas grossas, porque
Diogo Dias era seu amigo.
Os
franceses, que mantinham com os índios Potiguara relação de
amizade (não procuravam ostensivamente invadir suas terras,
celebravam casamento com as índias das aldeias, e ainda
juntavam suas forças em caso de conflito), também tinham
motivos de ir à forra contra Diogo Dias. Este tinha estado na
Baía da Traição, e destruído algumas naus francesas. Assim,
os franceses se aliaram aos Potiguara da beira mar, e aos
guerreiros de Ininguaçu, e destruíram todo o engenho de Diogo
Dias, situado em Tracunhaém.
Esse
o estopim da guerra aberta contra os Potiguara, que fez a
Coroa desmembrar a Capitania de Itamaracá, criando a
Capitania Real da Paraíba, finalmente iniciada no 5 de
Agosto. Os Potiguara foram sendo paulatinamente expulsos de
suas terras. Habitantes de terras entre Pernambuco e o Maranhão,
disputam hoje, a duras penas, reduzidos 26 mil hectares, entre
os Rios Mamanguape e Camaratuba.
Os
franceses não conseguiram estabelecer vilas na Paraíba,
apesar das relações de amizade com os Potiguara. Mas o
fizeram no Maranhão. O historiador francês Maurice Pianzola
lançou recentemente o livro “Papagaios Amarelos”, onde
narra a aventura da colonização francesa no Maranhão. E
narra um diálogo profundamente lúcido e inquietante, que
evidencia o drama sofrido pelos índios, que optavam pelos
franceses contra os portugueses. Disse o velho índio: “Vi
os portugueses chegarem a Pernambuco, bem como a Potengi, e
tudo começou como com os franceses. Praticavam o escambo e não
pareciam sonhar em se estabelecer no país. Dormiam com
absoluta liberdade com as nossas filhas e isso nos dava grande
honra. Depois, alegaram que precisavam ficar e que devíamos
construir fortalezas e cidades onde ficaríamos todos juntos.
Depois, um pouco embaraçados, explicavam que o seu Deus lhes
proibia servirem-se de nossas filhas, a menos que as
desposassem, o que não podiam fazer enquanto elas não fossem
batizadas. Logo depois, afirmaram que precisavam de escravos,
eles e os padres também, para cuidarem da casa e trabalharem
em seus jardins. Fomos obrigados a dar-lhes escravos, mas não
se contentaram, como nós, com os escravos feitos na guerra.
Exigiram muitos outros, de tal forma que fomos obrigados, para
não nos transformamos todos em escravos, a deixar a região.
Vocês mesmos, no início, contentavam-se em vir nos ver todos
os anos e ficar apenas quatro ou cindo luas conosco.
Traficavam, dormiam amavelmente com nossas filhas e nós nos
estimávamos bem felizes quando nasciam crianças. Depois,
partiam com nossas mercadorias para ir buscar na sua terra
aquelas das quais precisávamos. Agora, você nos trouxe um
grande chefe os padres, o que nos dá bastante prazer.
Convenceu-nos a construir um forte, dizendo que era para nos
proteger dos nossos inimigos, e os padres, como os portugueses
plantaram cruzes e se puseram a instruir e a batizar. Vocês
também, vocês também disseram que não podiam se servir de
nossas filhas, senão no casamento e depois de seu batismo.
Enfim, no início, não queriam escravos, mas agora pedem, vocês
também.”
Em
1680 Alvará Régio português reconheceu aos índios seu
direito originário às terras de ocupação tradicional.
Direito congênito, que surge com o índio que nasce. Esse
direito também foi reconhecido expressamente pela nossa
Constituição. Nisso, o Brasil acompanha os mesmos passos
dados por Estados como a Austrália, Nova Zelândia, Canadá,
que reconhecem que o direito dos índios não é concedido
pelo Estado, mas antecede a este. O direito dos índios às
terras não decorre de nenhum título ou documento oficial,
mas do indigenato, que é instituto jurídico da própria
organização indígena, aqui e em qualquer parte do mundo
onde houver índio.
Os
portugueses fizeram pazes com os Tabajara. Estes foram
dizimados. Continuaram guerra com os Potiguara: sua resistência
lhes fez continuarem vivos. Isso lembra Umberto Eco:
“Rebelar-se ou trair, pouca alternativa é deixada aos
humildes”.
A
luta dos Potiguara continua contra seus inimigos históricos:
os senhores da cana, de Pernambuco, diretamente ou por
interpostas pessoas - físicas ou jurídicas -, que continuam
a invadir suas terras, desafiar seus destinos, e insultar seus
direitos. Mesmo terras em que o Estado termina por reconhecer
como sendo pertencente aos índios são contestadas, e os
direitos sobre elas disputados.
A
situação não é diferente com os Ianomami, em Roraima; ou
os Tremembé, no Ceará; ou os Pataxó, na Bahia; ou como
relatam os sobreviventes de tantos outros grupos e etnias indígenas.
Narrando
a saga dos primeiros habitantes do que hoje é a Paraíba, em
grande parte revelo a dor e o contínuo sofrimento dos
primeiros habitantes do território do que hoje chamamos
Brasil.
Ciganos:
o futuro em nossas mãos
Elas
lêem mãos, dizem o futuro e anunciam a sorte. São de raça
de adivinhos? Não! São ciganas. Vestem-se com longos
vestidos coloridos, adornam-se com colares exuberantes,
caminham em pequenos grupos, e observam os curiosos passantes,
todos desejosos de saberem da vida o intento. Estimulam orações,
acolhem dinheiros entregues em troca de intervenções favoráveis
a seus destinos, e com isso, cada dia, asseguram para si e
suas famílias a vida de cada dia.
Os
homens realizam trocas. Animais, eletrodomésticos, pequenos
objetos, tudo é mercadoria que passa de mão em mão, e faz
circular a riqueza, ou a pobreza, porque, a cada dia, o nicho
econômico sobre o qual atuam tem diminuído sua prosperidade.
Não têm, da sociedade envolvente, o sentido de propriedade e
posse. O lugar, o chão, é estrada e passagem. Quando
cansados, ou quando bons negócios se apresentam nas
proximidades, o chão vira acampamento, e as lonas viram
barracos, e estes seus “asilos invioláveis”.
Ciganos.
Nômades vindos da Índia para a Europa, há cerca de 1.000
anos atrás, com paradas pela Pérsia, depois pelos Bálcãs
(Grécia, etc.), e, a partir do Século XIV e
XV, espalhando-se por toda a Europa chegando ao Brasil
no final do Século XVI, como degradados de Portugal. Esse
nomadismo é de cunho econômico. Seguem atrás de mercados,
para vender seus produtos, e realizar seu ganha-pão. E nisto
formam como que um circuito de pontos de contato e
conhecimento, que é revisitado e renovado de tempos em
tempos. Isto não significa dizer que todo cigano tem que
estar permanentemente na estrada. Basta ver Souza, ou Patos,
para perceber que a pressão econômica fez com que muitos se
assentassem.
Ciganos.
Sob este nome, qualificam-se minorias étnicas que a si mesmos
chamam de calon, rom ou sindi. Os de
Sousa, por exemplo, são calon,
e falam uma língua chamada caló.
Vieram de Portugal e Espanha. São dos mais antigos no
Brasil, especialmente no Nordeste. Os rom,
e os sindi são
mais recentes, sendo grandes as correntes de imigração para
o sul ainda neste Século XX.
Formam
uma sociedade à parte, com sua ética e seus códigos de
conduta. E, como convivem com a sociedade sedentária, formal,
organizada, são forçados a aceitar as normas desta
sociedade. Adotam-se muitos nomes. É comum serem batizados várias
vezes. O padrinho é um vínculo de respeito e proteção
firmado com pessoas de representatividade no meio com o qual
os ciganos convivem.
São
vítimas de muitos preconceitos. Para os citadinos, cigano
muitas vezes é sinônimo de esperto, de vagabundo, ou de ladrão.
Esse ranço histórico é cultivado, inclusive, pela
literatura em torno de estórias e histórias vividas ou
imaginadas. Assim como os judeus, ou os índios, ou os negros,
ou os pobres, os ciganos são discriminados na sociedade.
A
Constituição de 1988 quase teve um artigo específico
determinando o efetivo respeito à minoria cigana. Antônio
Mariz, que conhecia os ciganos como poucos, os tratava como
gente, e os respeita como ninguém, propôs emenda nesse
sentido. Não prevaleceu, a final. Ainda assim, estão os
ciganos abrangidos pela grande proteção dada pelos artigos
215 e 216 da Constituição, que manda preservar, proteger e
respeitar o patrimônio cultural brasileiro, o qual é
constituído pelos modos de ser, viver, se expressar, e
produzir de todos os segmentos que formam o processo civilizatório
nacional.
Como
toda minoria étnica (ou religiosa, ou lingüística), os
ciganos têm direitos fundamentais. O primeiro deles é o
direito a não ser objeto de discriminação. E a discriminação
ocorre quando os ciganos recebem tratamento distinto do
concedido aos não ciganos, unicamente em razão de sua pertinência
a seu grupo étnico. Assim ocorre, por exemplo, quando seus
vizinhos sempre atribuem a autoria de qualquer pequeno delito
contra o patrimônio aos membros da comunidade cigana, pelo só
fato de, por preconceito, acharem que são eles os mais
propensos a tais investidas. Em Inquérito Civil, realizando
entrevistas na cidade de Souza, obtive depoimentos de
delegados de polícia, dizendo que a população acusa os
ciganos de delitos que a própria população é que pratica.
Outra
forma de discriminação é a imposição de um tratamento
igual, sem respeitar as diferenças. Na educação, por
exemplo, ensinando como forma de assimilação cultural,
desconsiderando a pauta de valores, as crenças, os padrões
de comportamento aplicados pelo grupo. E considerando a língua
não como tal, mas como um mero ‘dialeto’ aplicado para
despistar a polícia!
A
Secretaria de Educação de Souza apresentou projeto de educação
especial para os ciganos. Naquele momento, juntamente com o
antropólogo e assessor especial do Ministério Público
Federal para assuntos de minorias Frans Moonen, sugerimos
algumas medidas que poderiam ser adotadas. Por exemplo,
pareceu-nos absolutamente prioritário mencionar a necessidade
de produção de material didático-pedagógico, tanto para os
alunos quanto para os professores, em razão da especificidade
cultural dos ciganos, e objetivando utilização do mesmo como
instrumento de superação dos preconceitos existentes, os
quais são geradores de discriminação social.
Lembrou-se
a necessidade de treinamento e capacitação de professores,
num primeiro momento com instruções acerca das
especificidades culturais do grupo étnico, e num segundo
momento professores bilíngües, já que os ciganos de Sousa
falam sua língua própria, chamada Calé (ou Caló),
que é genericamente denominada, no mundo inteiro, de Romani
(ou Romanês); em razão do uso da língua como fator de
preservação cultural, unidade social, e proteção contra
estranhos, deve ser previsto o treinamento de ciganos membros
da comunidade como parte do corpo de professores ou monitores.
Recomendou-se
a realização de Seminário onde fossem abordados os vários
aspectos da problemática cigana (educação, cultura, língua,
acampamentos, preconceito, discriminação, trabalho e renda,
etc.). Tais recomendações continuam válidas. Sei que
medidas assemelhadas começam a ser implementadas pela
Secretaria de Educação do Estado, com relação aos índios
Potiguara.
Os
ciganos continuam aí. Em São Paulo, no Paraná, em Minas, no
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, na Bahia, e em tantos
outros Estados. Alguns na estrada. Muitos já fora dela,
quando nada temporariamente. Mas todos merecedores da atenção,
do conhecimento e do respeito de todos nós. Nosso futuro pode
até ser lido nas mãos das ciganas. E o futuro dos ciganos,
em grande parte, está em suas crianças, suas tendas e em
suas estradas. Mas também está em nossas mãos.
Conclusões.
O Brasil no banco dos réus
Aproxima-se,
mais uma vez, o 10 de Dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos. Celebrar-se-á, este ano, o 50o aniversário
da promulgação, pela Assembléia Geral das Nações Unidas,
da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Vimos que princípios e
preceitos ali contidos - direito à vida, à igualdade, à
segurança, a não ser submetido a tortura ou tratamento
degradante ou cruel, à liberdade, ao acesso à justiça, a um
padrão de vida condigno - foram incorporados em tratados,
pactos e convenções internacionais, a maioria dos quais já
assinados e ratificados pelo Brasil e, hoje, tão válidos e
vigentes quanto normas legais como o Código Civil, o Código
Penal, etc.
Não
se deixa de reconhecer que o Brasil tem procurado modificar
seu ordenamento jurídico, adequando-o aos grandes avanços
obtidos pelas sociedades civilizadas. A Constituição, que é
o instrumento através do qual o povo brasileiro disse
instituir um governo, diz fundar-se o Estado brasileiro na
harmonia social, comprometida com a solução pacífica das
controvérsias, fundamentando-se na dignidade da pessoa
humana, objetivando construir uma sociedade livre, justa e
solidária, e sem excluídos ou marginalizados sociais. Tudo
isto coroado com a determinação de reger-se, nas relações
internacionais, pela prevalência dos direitos humanos. Mas se
é possível dizer que a Constituição e as leis já mudaram
muito, por outro lado o modo de agir dos agentes do Estado, e
do próprio povo, diante das violações aos direitos humanos,
quase nada mudou ou se mudou foi para incrementar a violência
e as violações.
“Os
mais sérios abusos aos direitos humanos continuam sendo as
execuções extrajudiciais, e a tortura. A Justiça é morosa
e freqüentemente não confiável, especialmente nas áreas
rurais, onde os poderosos donos de terra usam da violência
para resolver os conflitos fundiários, e influenciam o poder
judiciário local. Nas áreas urbanas, a polícia é freqüentemente
implicada nas mortes e violações a direitos dos
prisioneiros, mas a Justiça Militar está congestionada de
processo, raramente, investiga efetivamente ou traz os colegas
policiais a julgamento e, raramente, condena os culpados. Os
pobres são os que mais sofrem a violência, seja a cometida
por policiais ou por criminosos. As prisões estão
dramaticamente superlotadas.” Estas afirmações - quase
acusações - não partiram de nenhum militante radical de um
organização de defesa dos direitos humanos. Em realidade, é
trecho de um documento elaborado pelo Departamento de Estado
dos Estados Unidos, e endereçado ao Congresso
norte-americano, relatando as práticas no Brasil atinentes a
direitos humanos.
No
exame de muitos dos temas referidos vimos os avanços, mas
também o que falta para implementar tantos preceitos
assecuratórios dos direitos humanos.
Por
todas essas questões, embora já possamos celebrar várias
conquistas no âmbito dos Direitos Humanos, com espírito de
luta, e confiança no futuro, o Brasil ainda merece estar no
banco dos réus.
|