|
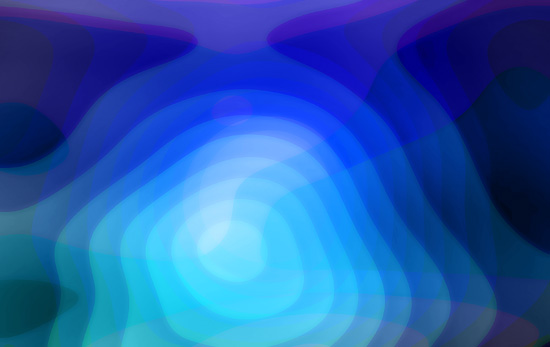
A Declaração
dos Direitos Humanos na Pós-Modernidade
J. A. Lindgren
Alves*
Sumário:
Introdução.
A questão da universidade.
A globalização e as novas configurações
sociais.
A rejeição do iluminismo.
Conciliações possíveis.
Os direitos
humanos como valores transculturais.
1.
Introdução
No curso de seu
meio século de existência, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, proclamada pelas Nações Unidas em 1948, cumpriu um
papel extraordinário na história da humanidade. Codificou as
esperanças de todos os oprimidos, fornecendo linguagem autorizada
à semântica de suas reivindicações. Proporcionou base
legislativa às lutas políticas pela liberdade e inspirou a
maioria das Constituições nacionais na positivação dos
direitos da cidadania. Modificou o sistema "westfaliano"
das relações internacionais, que tinha como atores exclusivos os
Estados soberanos, conferindo à pessoa física a qualidade de
sujeito do Direito além das jurisdições domésticas. Lançou os
alicerces de uma nova e profusa disciplina jurídica, o Direito
Internacional dos Direitos Humanos, descartando o critério da
reciprocidade em favor de obrigações erga omnes.
Estabeleceu parâmetros para a aferição da legitimidade de
qualquer governo, substituindo a eficácia da força pela força
da ética. Mobilizou consciências e agências, governamentais e não-governamentais,
para atuações solidárias, esboçando uma sociedade civil
transcultural como possível embrião de uma verdadeira comunidade
internacional.
É fato que nenhuma
dessas conquistas se verificou sem controvérsias e lutas. Nem
mesmo os Estados redatores da Declaração se dispuseram
seriamente a cumpri-la desde o primeiro momento, conforme
evidenciado nas resistências à outorga de natureza obrigatória
aos direitos nela definidos. Em contraste com os dois anos e meio
transcorridos para a negociação e proclamação da Declaração,
os dois principais tratados de direitos humanos – o Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais –,
de caráter compulsório para os respectivos Estados-partes, também
negociados desde 1946, levaram vinte anos para ser aprovados na
ONU (em 1966) e trinta para entrar em vigor no âmbito
internacional (em 1976, ano em que obtiveram o número de ratificações
necessárias). Até hoje não receberam a adesão de todos os países.
Malgrado essas e
outras dificuldades, não deixa de ser curioso que a Declaração
de 1948, com configuração de manifesto, meramente recomendatório
– simples peça de soft law, na terminologia anglo-saxã
– tenha conseguido repercussão tão generalizada quando era
politicamente válido questionar sua universalidade. Mais
paradoxal é, porém, a situação em que se encontra agora.
Formalmente
universalizados pela Conferência de Viena de 1993, quando o fim
da competição estratégica bipolar parecia propiciar-lhes a
oportunidade de enorme fortalecimento, os direitos humanos se vêem
atualmente ameaçados por múltiplos fatores. Alguns sempre
existiram e, provavelmente, sempre existirão. Decorrentes de políticas
de poder, do arbítrio autoritário, de preconceitos arraigados e
da exploração econômica, tais ameaças não são nem antigas,
nem modernas; são praticamente eternas, podendo variar na
intensidade e nas formas em que se manifestam. Outras, contudo, são
– ou se apresentam como – novas, características do período
em que vivemos, senão exclusivas da década presente,
profundamente sentidas desde o fim da Guerra Fria. Mais difíceis
de combater do que as ameaças tradicionais, os novos fatores
contrários aos direitos humanos, insidiosos e efetivos, acham-se
embutidos nos efeitos colaterais da globalização econômica e no
antiuniversalismo pós-moderno do mundo contemporâneo.
2. A
questão da universalidade
Herdeira do
Iluminismo, assim como a própria ONU, a Declaração de 1948
explicita, no preâmbulo, sua doutrina. Esta se baseia no
reconhecimento da "dignidade inerente a todos os membros da
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis"
como "fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mundo". Para que os Estados, a título individual e em
cooperação com as Nações Unidas, cumpram plenamente o
compromisso de promover o respeito universal aos direitos humanos
e liberdades fundamentais, assumido ao assinarem a Carta de São
Francisco e recordado no preâmbulo da Declaração, "uma
compreensão comum desses direitos e liberdades" é reputada
"da mais alta importância".
Ao preâmbulo se
seguem trinta artigos. Nem todos são propriamente dispositivos. O
artigo 1º, também doutrinário, afirma: "Todas as pessoas
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de
razão e consciência e devem agir em relação umas às outras
com espírito de fraternidade". O artigo 2º começa por
entronizar axiologicamente o princípio da não-discriminação de
qualquer espécie (em função de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem
nacional ou social, riqueza ou qualquer outra condição),
acrescentando: "Toda pessoa tem capacidade para gozar os
direitos e liberdades estabelecidos nesta Declaração".
Passando da afirmação à linguagem imperativa, o mesmo artigo 2º
determina adiante que "não será feita qualquer distinção
fundada na condição política, jurídica ou internacional do país
ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um
território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer
sujeito a qualquer outra limitação de soberania". Essencial
a um documento destinado a todos os seres humanos, num período em
que dois-terços da humanidade ainda viviam em regime colonial,
foi essa determinação do segundo parágrafo do artigo 2º – na
verdade, uma auto-restrição do Ocidente sobre sua atuação nas
colônias, tantas vezes brutal – que permitiu à Declaração de
1948 ser denominada Universal, e não apenas Internacional, como
seria de esperar.1
Os direitos
estabelecidos na Declaração, embora freqüentemente violados, são
hoje em dia amplamente conhecidos: à vida, à liberdade, à
segurança pessoal; de não ser torturado nem escravizado; de não
ser detido ou exilado arbitrariamente; à igualdade jurídica e à
proteção contra a discriminação; a julgamento justo; às
liberdades de pensamento, expressão, religião, locomoção e
reunião; à participação na política e na vida cultural da
comunidade; à educação, ao trabalho e ao repouso; a um nível
adequado de vida, e a uma série de outras necessidades naturais,
sentidas por todos e intuídas como direitos próprios por
qualquer cidadão consciente. Controvertido, na qualidade de
direito humano fundamental, o direito à propriedade, "só ou
em sociedade com outros", registrado no artigo 17,
desagradava sobretudo aos países socialistas, enquanto os
direitos econômicos e sociais não se adequavam à ortodoxia
liberal capitalista. A igualdade de direitos entre homens e
mulheres, sobretudo no casamento (art. 16), assim como a proibição
de castigo cruel (art. 5º) causavam, por sua vez, dificuldades a
países muçulmanos de legislação não-secular. Nenhum dos
dispositivos chegava, contudo, a ofender as tradições de
qualquer cultura ou sistema sociopolítico. Ainda assim a Declaração
dos Direitos Humanos foi submetida a voto, na Assembléia Geral da
ONU, em 10 de dezembro de 1948, e aprovada por quarenta e seis a
zero, mas com oito abstenções (África do Sul, Arábia Saudita e
os países do bloco socialista).
Adotada sem
consenso num foro então composto de apenas 56 Estados, ocidentais
ou "ocidentalizados"2, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos não foi, portanto, ao nascer,
"universal" sequer para os que participaram de sua gestação.
Mais razão tinham, nessas condições, os que dela não
participaram – a grande maioria dos Estados hoje independentes
– ao rotularem o documento como "produto do Ocidente".
Não tendo tido voz
nas negociações pertinentes, porque eram quase todos colônias
ocidentais, os países afro-asiáticos tinham razão, sim, em suas
objeções à Declaração de 1948, assim como, em menor grau, os
socialistas, que se abstiveram na votação (apesar de terem sido
os principais propugnadores dos direitos econômicos e sociais,
por ela estabelecidos). Todos, porém, deixaram de ter razão aos
poucos, na medida em que os direitos consagrados pelo documento
entraram gradativamente nas conciências de seus nacionais3,
auxiliando-os, inclusive, nas lutas pela descolonização4.
Deixaram de ter razão, também, pelo constante recurso que a ela
sempre fizeram para a consecução de seus próprios objetivos
internacionais, como na luta pela erradicação do apartheid
e em defesa da causa palestina. Perderam a consistência, ainda,
na medida em que foram aderindo, seletiva mas voluntariamente, a
outros instrumentos internacionais nela baseados, como os dois
Pactos Internacionais e as grandes convenções de direitos
humanos5 – nesses casos instrumentos jurídicos obrigatórios
(hard law), que exigem ratificação e prevêem
monitoramento.
O passo mais
significativo – ainda que não "definitivo" – no
caminho da universalização formal da Declaração de 1948 foi
dado na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada em
Viena, em junho de 1993. Maior conclave internacional jamais
reunido até então para tratar da matéria, congregando
representantes de todas as grandes culturas, religiões e sistemas
sociopolíticos, com delegações de todos os países (mais de
170) de um mundo já praticamente sem colônias, a Conferência de
Viena adotou por consenso – portanto, sem votação e sem
reservas – seu documento final: a Declaração e Programa de Ação
de Viena. Este afirma, sem ambigüidades, no artigo 1º: "A
natureza universal desses direitos e liberdades não admite dúvidas".
É inegável que o
consenso alcançado nessa conferência mundial exigiu longas e difíceis
negociações, como é normal em eventos congêneres. Não houve,
porém, propriamente, imposições de parte a parte vencedoras,
nem o documento se propõe violar o âmago de qualquer cultura.
Como assinala o artigo 5º, depois de reafirmar a interdependência
e indivisibilidade de todos os direitos humanos: "As
particularidades nacionais e regionais devem ser levadas em
consideração, assim como os diversos contextos históricos,
culturais e religiosos, mas é dever dos Estados promover e
proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais,
independentemente de seus sistemas políticos, econômicos e
culturais".
Se o artigo 5º da
Declaração de Viena pode soar insuficiente para militantes
maximalistas e incongruente para quem não participou das negociações,
ele não o parece ser para a maioria dos Estados que antes
rejeitavam a Declaração de 1948. Com raríssimas exceções, os
governantes afro-asiáticos não têm mais recorrido ao argumento
da ocidentalidade dos direitos humanos,6 como tampouco o
fazem os governos socialistas de qualquer quadrante. Quando
pressionados por alegações de violações, tais governantes
procuram agora refutá-las com argumentos outros e não pelo apego
a tradições culturais: justificam-nas pragmaticamente à luz de
dificuldades internas, ou, mais construtivamente, reconhecem os
problemas existentes, descrevendo os esforços empreendidos para
resolvê-los7.
Não é mais,
portanto, desde 1993, pela ótica das doutrinas jurídicas, nem da
política em sentido estrito, que o conceito de direitos humanos
universais vem sendo desacreditado. A linguagem de tais direitos
é hoje, ao contrário, parte integrante e rotineira do discurso
internacional. As ameaças mais sérias à Declaração de 1948
encontram-se em outras esferas. E são potencialmente mais
nefastas, porque envoltas por iniciativas
"racionalistas" no campo econômico e argumentações
filosóficas "emancipatórias" bem-intencionadas.
3. A
globalização e as novas configurações sociais
Uma das contradições
evidentes de nossa época consiste no vigor com que os direitos
humanos entraram no discurso contemporâneo como contrapartida
natural da globalização, enquanto a realidade se revela tão
diferente. Não é necessário ser "de esquerda" para
observar o quanto as tendências econômicas e as inovações
tecnológicas têm custado em matéria de instabilidade,
desemprego e exclusão social. Inelutável ou não, nos termos em
que está posta, e independentemente dos juízos de valor que se
lhe possa atribuir, a globalização dos anos 90, centrada no
mercado, na informação e na tecnologia, conquanto atingindo
(quase) todos os países, abarca diretamente pouco mais de um terço
da população mundial. Os dois-terços restantes, em todos os
continentes, dela apenas sentem, quando tanto, os reflexos
negativos.
As características
da globalização deste fim de século são bastante conhecidas,
assim como reconhecidos seus efeitos colaterais. A busca obsessiva
da eficiência faz aumentar continuamente o número dos que por
ela são marginalizados, inclusive nos países desenvolvidos.8
Assim como a mecanização da agricultura provocou o êxodo rural,
inflando as cidades e suas periferias, a racionalização atual da
produção empurra os pobres ainda mais para as margens da
economia, que não coincidem necessariamente com as periferias
urbanas. Com a informatização crescente da indústria e dos
serviços, o trabalho não-especializado torna-se supérfluo e o
desemprego, estrutural. A mão-de-obra barata, ainda imprescindível
na produção, é recrutada fora do espaço nacional, pelas
filiais de grandes corporações instaladas no exterior, ou na
acolhida – politicamente relutante – de estrangeiros
imigrados.9 Nas sociedades ricas ou emergentes, o desmonte
da previdência pública, alegadamente necessário à gestão
estatal eficaz, transforma a exclusão em contrapartida aceitável
da competitividade nacional. Nas sociedades pobres, a atração de
investimentos externos é fator de vida e morte. Os atrativos não
são, contudo, suficientes para garantir a permanência de
capitais voláteis, que podem sair de qualquer país, do dia para
a noite, em função de problemas observados em outras partes do
mundo. Como paliativo aos efeitos colaterais da globalização,
transfere-se à iniciativa privada e às organizações da
sociedade civil a responsabilidade pela administração do social.
Estas, não obstante, funcionam apenas na escala de seus meios e
de seu humanitarismo. Abandona-se, assim, a concepção dos
direitos econômico-sociais.
Enquanto para a
sociedade de classes, da "antiga" modernidade, o
proletariado precisava ser mantido com um mínimo de condições
de subsistência (daí o Welfare State), para a sociedade
eficientista, da globalização pós-moderna, o pobre é
responsabilizado e estigmatizado pela própria pobreza. Longe de
produzir sentimentos de solidariedade, é associado
ideologicamente ao que há de mais visivelmente negativo nas
esferas nacionais, em escala planetária: superpopulação,
epidemias, destruição ambiental, vícios, tráfico de drogas,
exploração do trabalho infantil, fanatismo, terrorismo, violência
urbana e criminalidade.10 As classes abastadas se isolam em
sistemas de segurança privada. A classe média (que hoje abarca
os operários empregados), num contexto de insegurança
generalizada, cobra dos legisladores penas aumentadas para o
criminoso comum. Ou, sentindo os empregos e as fontes de remuneração
ameaçadas, recorre a "bodes expiatórios" na intolerância
contra o "diferente" nacional – religioso, racial ou
étnico – ou contra o imigrante estrangeiro (às vezes
simplesmente de outra região do país). Anulam-se, assim, os
direitos civis.
O Estado, antes
portador de mensagens idealmente igualitárias e emancipatórias,
no socialismo e no liberalismo, além de garantidor confiável da
convivência social, torna-se, pós-modernamente, simples gestor
da competitividade econômica, interna e internacional. Sem
sentido de progresso humano, a política, desacreditada porque
ineficaz, passa a ser vista com maus olhos, pois abriga "em
sua natureza" distorções deliberadas ou involuntárias,
assim como a possibilidade de corrupção. A indiferença popular
resultante leva ao absenteísmo eleitoral, quando legalmente factível,11
ou à compreensível falta de entusiasmo, em sistemas de voto
obrigatório. Perdem o valor, dessa forma, os direitos políticos,
arduamente conquistado nas lutas da modernidade.
Desprovido de
capacidade unificadora, tanto em decorrência de abusos na
instrumentalização de "metanarrativas", quanto pela
consciência contemporânea da "capilaridade do poder",12
o Estado nacional, como locus moderno da realização
social, perde gradativamente até mesmo a função identitária. O
indivíduo, muitas vezes discriminado dentro do território
nacional pela parcialidade da implementação dos direitos humanos
e liberdades fundamentais, vai buscar outros tipos de
"comunidade" preferenciais como âncoras de autoproteção
– ou, como se diz atualmente, para sua própria autoconstrução.
Sem deixar de considerar-se nacional do país de nascença, o
negro dos Estados Unidos é sobretudo african american, o
índio é native american, os homossexuais são gays and
lesbians (alguns se identificam como membros de uma queer
nation, diferenciada da "nação" heterossexual),
todos, justificadamente, assertivos e reivindicatórios.13
A identificação primária e "guetizada" também ocorre
pela ascendência hereditária cultural, como indiano, paquistanês
ou árabe nas sociedades européias e norte-americana, como
meridional na Itália do Norte, como muçulmano no mundo cristão,
como tibetano na China.
É claro que tais
identificações são positivas e plenamente condizentes com a
antidiscriminação prevista na Declaração Universal dos
Direitos Humanos. O problema se apresenta quando se transformam em
fundamentalismos. Esses, uma vez exacerbados, levam à limpeza étnica
da Bósnia, ao genocídio de Ruanda, à brutalidade dos "islamistas"14
argelinos, ao arcaísmo desvairado e antifeminino dos talibãs do
Afeganistão. Podem, inclusive, "legitimar", em sentido
contrário, o radicalismo "WASP" nos Estados Unidos, o
anti-arabismo da direita francesa, o separatismo da Lega
Lombarda, a xenofobia européia, o ultranacionalismo fascistóide,
o isolacionismo reacionário, o antifeminismo masculino – hoje
em dia bastante controlado em quase todo o Ocidente –, o
anti-homossexualismo virulento, ainda presente em quase todo o
planeta.
Grande parte das
lutas identitárias se deve, sem dúvida, na origem, ao princípio
basilar da não-discriminação, e muitas das novas reivindicações
comunitárias ainda se fundamentam an Declaração Universal de
1948.15 Talvez por essa razão, nenhum dos grandes teóricos
da pós-modernidade se tenha proposto negar a importância do
documento, embora seja facílimo "desconstruir" seu
texto.16 É inegável, porém, que a própria noção de pós-modernidade,
em qualquer sentido que se lhe dê, tende a enfraquecer seus
objetivos.
4. A
rejeição do iluminismo
Menos popularizada
no Brasil do que a da "globalização", mas amplamente
difundida nas sociedades economicamente avançadas, a noção de
uma "pós-modernidade", complexa e utilizada para os
fins mais díspares, é outra que parece haver-se implantado
solidamente na época contemporânea. Desenvolvida em discussões
acadêmicas e pouco verbalizada no quotidiano da cidadania, a pós-modernidade
é, não obstante, detectável em práticas políticas e
reivindicações atuais.
Enquanto na
modernidade os embates sociais se desenrolavam em nome da
comunidade nacional, da afirmação do "Homem" genérico
e universal ou no contexto das lutas de classe, na pós-modernidade
as batalhas da cidadania são, muitas vezes, empreendidas em nome
de uma comunidade de identificação menor do que o Estado
nacional e diferente da classe social.17 Os Governos, por
sua vez, de todos os quadrantes, assemelham-se a administradores
de empresas, preocupados, sobretudo, ou apenas, com a eficiência
da gestão econômica – objetivo aparentemente impossível
enquanto perdurar a inexistência de controle supranacional para
as flutuações do capital especulativo (de montante superior ao
PIB de maioria esmagadora dos países).
Tal como o Poder
"capilar" na interpretação de Foucault, a pós-modernidade
é algo que não se auto-anuncia, nem se personifica, e de que
ninguém propriamente se investe: ambos simplesmente se exercem,
de maneira assumida ou sub-reptícia. Para entendê-la, na acepção
aqui utilizada, basta compará-la, em linhas muito gerais, à
modernidade, que ela se propõe superar.
Impulsionada pelo
Iluminismo europeu, que atingiu seu ápice no pensamento de Kant,
a modernidade clássica se propunha racional, secular, democrática
e universalista. A Razão era atributo da natureza humana. Ela
emanciparia o Homem da subjugação política e social a que ele
se auto-submetia pelo desconhecimento da Verdade.18 As
sociedades, na medida em que rejeitassem seu substrato religioso,
derrubariam o absolutismo despótico e alcançariam, com o
Direito, o progresso e a liberdade. O Homem era, pois sujeito da
História. E os direitos humanos, conforme definidos por Locke –
para a Revolução Americana – e com aportes de Rousseau –
para a Revolução Francesa – eram, e são ainda, instrumentos
importantíssimos para a consecução da liberdade, da igualdade e
da fraternidade, herdados do "Século das Luzes".
As qualificações
dessa trajetória humanista fulgurante começaram cedo, dentro do
próprio Iluminismo, com Hegel, Herder e muitos outros pensadores.
Para Marx, no século passado (e grande parte do século
presente), o Homem fazia sua História, mas não em circunstâncias
por ele próprio escolhidas.19 Marx foi o primeiro a
recorrer claramente à noção de estrutura – econômica –
como fator limitativo da liberdade humana (a ser conquistada pela
Revolução). Fê-lo, porém, dentro da lógica do racionalismo
universalista – no caso, materialista – de que foi herdeiro
assumido e propulsor. Já Nietzche, pela ótica da cultura, com
recurso à genealogia da moral e a análises epistemológicas
diversas, abriu o caminho para o pós-modernismo filosófico,
desmontando, de maneira assistemática mas firme, o racionalismo
iluminista e a ética (alegadamente mesquinha e ilusória) que
este disseminava.
Enquanto tais
desenvolvimentos de longo curso ocorriam mais sensivelmente no
pensamento social, Freud, na passagem do Século XIX para o atual,
demonstrou, com o estudo do inconsciente, que o Homem não era uno
nem autônomo, modificando substantivamente a compreensão da
personalidade individual. Saussure, por sua vez, ao estudar a lingüística,
identificou as relações de signos e estruturas de linguagem que
condicionam o conhecimento. Lançavam-se, assim, as bases para a
"desconstrução do sujeito".
Não é preciso
fazer inventário das contribuições dos diversos teóricos
influentes – estruturalistas, modernos e pós-modernos – para
se chegar a um entendimento elementar da noção de pós-modernidade
que hoje se faz presente nas práticas sociais. Nem tampouco
relacionar todas as formas históricas de instrumentalização e
manipulação distorcidas da racionalidade iluminista,
particularmente em nosso século, para se compreender seu
questionamento. Vale a pena, sim, recordar que Jean-François
Lyotard, em 1979, deu ao termo "pós-modernidade" sua
aplicação mais corrente, ao diagnosticar o fim das Grandes
Narrativas – da Razão, da Emancipação e do Progresso humanos
– como meios necessários de legitimação do conhecimento,
passando este a ter objetivos meramente "performáticos",
dentro de uma realidade sistêmica.20 Por menos agradável
que o seja, a observação das características atuais da
globalização tende a confirmar esse diagnóstico.
Uma vez aceito o
entendimento, hoje em dia generalizado, de que o homem e a mulher,
em sua realidade mental e corpórea, são seres construídos
dentro da cultura – ou, no dizer de Foucault, da episteme
– em que vivem, não tendo uma natureza universal, e de que o
conhecimento é inelutavelmente determinado pelas estruturas (econômicas,
sociais, culturais e lingüísticas), nenhuma das quais é comum a
todos os indivíduos, a verdade se relativiza. A Razão do
Iluminismo é, assim, substituída, no máximo, por "razões"
específicas. O poder, sendo mais do que o atributo da política e
tendo uma microfísica que o distribui em práticas disciplinares
rotineiras, não é e não pode ser exercido com finalidade
emancipatória. Sem Grandes Narrativas, explicativas ou justificatórias,
a História também deixa de existir como totalidade, com sentido
de progresso, sendo substituída por "histórias"
localizadas.
O ser humano "desconstruído"
pela psicanálise, pela lingüística e pela etnologia – as três
"contraciências" apontadas por Foucault –, pelos
diferentes jogos de linguagem e "micronarrativas" simultâneas
– identificados por Lyotard –, pelos "textos" em que
se insere, dentro de uma intertextualidade sem fim – na
interpretação de Derrida – não pode ipso facto ser
sujeito. Para se autoconstituir como indivíduo, necessita
recorrer a identidades várias. A identificação vai privilegiar
a "comunidade", real ou imaginária, imposta ou
selecionada, como espaço de realização. Este não corresponde
ao Estado nacional, outra herança ideológica do Iluminismo, com
seu poder/saber disciplinador, nem às classes sociais do
marxismo, modificadas na composição ou seduzidas pelo
capitalismo "de consumo". Mas se, por um lado, a
comunidade nacional é atualmente inconsistente, a classe social
um elemento fluido e as comunidades transnacionais específicas
simplesmente embrionárias, por outro lado uma comunidade
internacional abrangente, além de utópica, estaria em contradição
com os particularismos de cada um. O local se sobrepõe, assim, ao
geral, e os interesses se particularizam.
Na pós-modernidade,
o eterno passa a ser contingente; o universal, ilusório e a metafísica,
uma invenção sem sentido. Esboroa-se, portanto, a idéia de
fundamentos para a política, o Direito e a ética. Tudo passa a
ser relativo, localizado e efêmero. É nessa situação que se
desenvolvem – ou se esmaecem – os confrontos político-sociais,
tendo por pano-de-fundo uma tecnologia "performática",
um conhecimento elusivo e uma globalização excludente.
Como justificar,
nessas condições, a atualidade da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, erigida sobre fundamentos iluministas, racionais
e humanistas, num somatório (desequilibrado) de insumos das
correntes liberal e socialista da modernidade? Como defender a idéia
de "direitos iguais e inalienáveis como fundamento da
liberdade e da paz no mundo"? Como insistir da afirmação de
que "todas as pessoas são dotadas de razão e consciência e
devem agir em relação umas às outras em espírito de
fraternidade"? Como universalizar tais direitos, construídos
historicamente na tradição ocidental, sem conferir-lhes feições
imperialistas? Tais perguntas, atualíssimas, não comportam
respostas fáceis. Já ocasionaram inúmeros estudos, nenhum dos
quais definitivo.21 O que se procurará em seguida é fazer
um breve esboço, superficial e apenas ilustrativo, das conciliações
tentadas, para sugerir um curso de ação mais intuitivo do que
"científico", mais pragmático do que
"fundamentado". E, por isso mesmo, talvez, rotulável até
de "pós-moderno".
5.
Conciliações possíveis
Nos dias de hoje,
embora a maior parte das rejeições categóricas à Declaração
Universal dos Direitos Humanos ainda parta de líderes políticos
nacionais – em contradição com o texto da Declaração de
Viena por eles próprios subscrita em 1993 – com o claro
objetivo de justificar violações deliberadas em ações
governamentais, o anti-universalismo vigente no pensamento social
contemporâneo também põe, muitas vezes, em questão, a validade
desse documento. E o faz com objetivos alegadamente emancipatórios,
ciente ou inconciente de que o particularismo "de
esquerda" acaba fortalecendo a brutalidade antidemocrática
da direita mais reacionária. Radicalizações desse tipo de
atitude supostamente libertária podem ser vistos seja entre etnólogos
ocidentais demasiado apaixonados pelas culturas não-européias
estudadas,22 seja entre ativistas sociais "de
base" que rejeitam o Estado nacional pelos malefícios
provocados junto a populações "colonizadas" em nome da
cidadania moderna,23 seja entre militantes maximalistas de
movimentos identitários que, na busca de aperfeiçoamentos legítimos
para a Declaração de 1948, naturalmente imperfeita,
involuntariamente abrem o caminho para sua destruição.24
Mais prudentes e
mais construtivas têm sido as variadas tentativas de
compatibilização entre o particularismo das culturas diversas e
o que há de efetivamente universal na idéia dos direitos
fundamentais. Essa tarefa intelectual é complexa, na medida em
que a própria noção de direitos, assim como a de indivíduo, é
oriunda do Ocidente. As culturas não-ocidentais, como é sabido,
sempre acentuaram os deveres, privilegiando o coletivo sobre o
pessoal, fosse em prol da "harmonia" social, fosse em
defesa da ordem e da autoridade, religiosa ou secular, não
importando sua arbitrariedade ou o grau de sofrimento exigido na
vida de cada um.
As tentativas de
conciliação entre os direitos humanos e as tradições "pré-modernas"
têm sido desenvolvida há tempos, por pensadores de todos os
continentes, propondo-se soluções variadas: assimilação dos
direitos individuais aos ensinamentos cristãos sobre a dignidade
e a fraternidade humanas; interpretação atualizada e reforma da sharia
islâmica; incorporação dos direitos humanos no dharma da
tradição hindu; adoção de uma "hermenêutica diatópica",
que, através do auto-reconhecimento da incompletude de toda e
qualquer cultura, preencha reciprocamente as lacunas encontradas
em cada uma com complementos alheios (proposta por Boaventura de
Sousa Santos25); ação intercultural comunicativa em busca
de consensos éticos (conforme a teoria de Habermas) e uma
infinidade de outras idéias centradas no multiculturalismo.
A aceitação do
multiculturalismo, como contrapartida à rejeição do humanismo
universalista, é, aliás, senão o "fundamento", o
objetivo essencial do pensamento pós-moderno. Este, como se sabe,
deve-se em grande parte à autocrítica da cultura ocidental feita
por alguns de seus filhos mais lúcidos, conhecidos como pós-estruturalistas,
todos impulsionados, em princípio, por aquilo que Foucault
identificava como sua própria "impaciência pela
liberdade".26 O problema com esse processo de
auto-esclarecimento crítico, em continuidade com a ilustração
emancipatória dos Séculos XVIII e XIX, é que o afã denunciador
das distorções do racionalismo ocidental terminou por
desacreditar o Iluminismo como um todo, os fundamentos igualitários
do humanismo universalista, assim como o sentido de progresso que
inspirava as lutas políticas e sociais da Idade Moderna, no
Ocidente como no Oriente, no Norte como no Sul.27
Cientes do desafio
que suas análises "superadoras" do Iluminismo clássico
representam para a prática política e intuitivamente conscientes
da força liberadora da luta pelos direitos humanos, os pós-estruturalistas
conseqüentes, "pais" quase sempre relutantes da pós-modernidade
teórica, esforçam-se por demonstrar, com maior ou menor vigor, o
caráter não-niilista de suas interpretações. Procuram apontar
saídas para as camisas de força por eles identificadas nas
metanarrativas do Iluminismo e para os impasses a que levam suas
críticas arrasadoras. Tentam, assim, conciliar o fim do
universalismo, por eles incriminado, com a idéia de justiça, a
irredutibilidade particularista das estruturas de consciência com
a noção de direitos humanos, a capilaridade do poder/saber com a
luta pela identidade autônoma, a aceitação do contingente como
meio para a obtenção de progresso, a substituição das Grandes
Narrativas por microdiscursos capazes de levar à liberdade autêntica.
Para Derrida, por exemplo, "inventor" da desconstrução
dos textos iluministas (e da afirmação de que tudo é
"texto"), "nada parece menos obsoleto do que o
ideal clássico emancipatório" (sic).28 A
justiça, "se alguma coisa desse tipo existe, fora e além do
direito, não é desconstrutível". O Direito, sim, pode e
deve ser desconstruído, pois "a desconstrução é a justiça"29.
A Justiça não é porém uma categoria universal, e sim uma
construção das diversas culturas. Na mesma direção, Lyotard
afirma a importância das micronarrativas, no lugar do "metadiscurso"
universalizante da Justiça, como única maneira de se evitar a
imposição "terrorista" de um jogo de linguagem majoritário
sobre a voz das minorias oprimidas.30 O fundamental é
sempre respeitar "o outro", e "a comunidade nele
presente como capacidade e promessa".31 Mais
diretamente incidentes sobre a noção de Justiça, além de mais
eficazes na realidade social, as análises de Foucault, movidas
por sua ânsia liberatória, sobre a capilaridade do poder com sua
microfísica disciplinar e sobre o caráter repressivo do Direito
e do Estado modernos oferecem, sem dúvida, respaldos importantes
para a constituição das novas "comunidades" infra e
transnacionais antes referidas, assim como para a afirmação de
direitos identitários – ou do "direito à diferença"
– como contrapartida assertiva às discriminações sofridas.
Outros teóricos
autodeclarados pós-modernos têm, não obstante, entendimento
distinto de toda essa evolução. Conforme explicita Terry
Eagleton (sem com isso necessariamente concordar), a própria
expressão "direitos humanos" causa embaraço duplo, com
cada uma das duas palavras, ambas pertencentes a um horizonte
superado de "humanismo metafísico, estrategicamente utilizável,
mas ontologicamente sem fundamento".32 Talvez um pouco
por isso, por concordar com a crítica de Derrida ao logocentrismo
masculino – ou "falogocentrismo" – do Iluminismo
ocidental, o americaníssimo Richard Rorty propõe pragmaticamente
uma abordagem por ele denominada "feminina", afetiva e não-racionalista,
à educação para os direitos humanos. Segundo Rorty, na medida
em que nenhuma pessoa imune aos ensinamentos kantianos se
reconhece apenas como ser humano, de valor igual ao do diferente,
e sim como integrante de um grupo melhor do que os outros, ao invés
de se apelar para fundamentos humanistas na persuasão contra as
discriminações, mais útil é apelar-se para os sentimentos
individuais: devo tratar bem o estrangeiro, não por ser ele
moralmente igual a mim, mas porque ele ou ela está longe de sua
gente, porque sua mãe está sofrendo ou porque pode um dia vir a
tornar-se meu genro ou minha nora.33
Dessas tentativas
teóricas – assim como de outras congêneres – é difícil
extrair justificativas concretas para a atualidade da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. O pragmatismo de Rorty pode ser
eficaz em certas situações específicas, mas aniquila a noção
de direitos. Se o pragmatismo é importante para que os direitos
humanos deixem de ser somente uma utopia, outras possibilidades
igualmente pragmáticas existem. E vêm, há muito, sendo
tentadas, com resultados visíveis.
6.
Os direitos humanos como valores transculturais
Muito antes da
emergência das teorias pós-estruturalistas e pós-modernas, a
doutrina jusnaturalista, com a postulação de "direitos
naturais", já havia perdido sua antiga preeminência. Os
direitos, todos, no Direito Interno e no Direito Internacional, são
reconhecidos, há décadas, como conquistas históricas, que
extrapolam fundamentações metafísicas, religiosas ou seculares,
e se adaptam às necessidades dos tempos. Por isso, e somente no
sentido de uma progressão temporal não-valorativa, é possível
falar-se nas diferentes gerações de direitos humanos, em que os
direitos econômicos e sociais, de segunda geração, consagrados
na doutrina jurídica posteriormente aos direitos "lockeanos",
mas devidamente incluídos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, igualam-se em importância aos direitos civis e políticos,
de primeira geração.34 Sem perder de vista essa conhecida
evolução doutrinária do Direito e tendo-se em conta as
transformações históricas ocorridas no mundo desde 1948, o fato
de que a Declaração proclamada como Universal pelas Nações
Unidas tenha resistido incólume, por meio século, com adesão
crescente até agora, é algo a ser seriamente considerado.
Como já assinalava
Bobbio em 1964: "O problema fundamental em relação aos
direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o
de protegê-los. Trata-se de um problema não-filosófico, mas político".35
Não há dúvida de que Bobbio tinha razão ao fazer tal afirmação.
Afinal, são os políticos que decidem, motu proprio ou sob
pressão, promover – ou não – o respeito pelos direitos
humanos. O problema que se colocou com a modernidade é que os
argumentos dos filósofos, longe de justificar os direitos
fundamentais consagrados na Declaração, podem representar, nas mãos
de líderes políticos e religiosos a eles contrários,
instrumentos legitimantes para sua rejeição. Se os direitos são
uma invenção intransferível da cultura ocidental, ela própria
injusta e apenas dissimuladamente libertária, como se pode
coerentemente impedir os talibãs de enclausurarem as mulheres
afegãs? Como exigir dos aiatolás iranianos que aceitem a
comunidade bahai, proscrita em sua Constituição? Como
exigir a revogação da fatwa de execução contra o
escritor Salman Rushdie, se uma fatwa religiosa é irrevogável
por definição?36 Como promover a liberdade de crença e
de expressão se a sharia islâmica fundamentalista prevê,
até mesmo, a crucificação de apóstatas? Como condenar a
repressão aos dissidentes chineses e norte-coreanos, quando o
confucionismo, muito mais do que qualquer tipo de
"socialismo", impõe como valor crucial a obediência à
autoridade? A resposta não necessita ser metafísica, nem
necessariamente "imperialista". Ela pode ser histórica
e condizente com o Direito Internacional.
A persistência da
Declaração Universal ao longo de cinqüenta anos comprova de per
si que, independentemente de suas origens, os valores positivos de
uma cultura podem, sim, ser transferidos de boa-fé, sem violação
dos cânones essenciais de cada civilização (os valores
negativos, como "as histórias" demonstram, são
assimilados com enorme facilidade). A maioria esmagadora dos países
que acederam à independência após a proclamação da Declaração
Universal dos Direitos Humanos não teve dificuldades para aceitar
seus dispositivos, incorporando-os, inclusive, na legislação doméstica.
Não o fizeram por imposição imperialista. Fizeram-no porque
reconheciam a importância da Declaração Universal na luta
anticolonialista. Fizeram-no porque queriam alcançar não somente
a autonomia política, mas também a modernidade. A observância
efetiva dos direitos humanos nas políticas e práticas desses e
de todos os demais Estados é uma outra questão.
A justa valorização
do dharma hinduísta por Gandhi não impediu seus
seguidores de adotarem na Índia independente o sistema democrático,
de abolirem legalmente as castas e de estimularem o conceito dos
direitos humanos. Com exceção da Arábia Saudita, praticamente
todos os países muçulmanos adotaram, no passado recente, sem
maiores problemas, códigos penais e civis não-estritamente
vinculados à sharia – corpo doutrinário de regras
oriundo de interpretações corânicas dos primeiros séculos do
Islã, mas não procedente de Maomé. A reinstauração obsessiva
da sharia "sagrada" como código legal – com a
inferiorização jurídica da mulher e os castigos corporais contrários,
em princípio, ao artigo 5º da Declaração – é fenômeno
recente, estimulado pela revolução iraniana de 1979 e acelerado
na década presente com o fortalecimento dos movimentos
fundamentalistas. Mas estes não são exclusividade das culturas
muçulmanas. Podem ser detectados, nas esferas religiosas e
profanas, em praticamente todo o mundo, inclusive nas sociedades
ocidentais desenvolvidas. Mas do que um acidente de percurso, uma
regressão incidental à pré-modernidade arcaica, eles
representam uma compensação ideológica "pós-moderna"
para o fim dos metadiscursos seculares e para o fundamentalismo
econômico do culto do mercado.
Ademais de
inspirar, ainda, a maioria das legislações domésticas e as
lutas reivindicatórias de todos os oprimidos, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos serve de base a um expressivo corpus
de tratados e mecanismos internacionais a que os Estados aderem
volitivamente. Na medida em que se impõe por opção voluntária
das diferentes culturas, nada tem ela de efetivamente
"imperialista". Como observa o Embaixador Gilberto Sabóia,
que coordenou as negociações da Conferência Mundial sobre
Direitos Humanos de 1993: "O consenso obtido em Viena, em
toda a sua fragilidade, torna possível esperar a superação das
resistências e a afirmação da realizabilidade dos direitos
humanos".37
Enquanto os
direitos humanos se apresentam hoje, após a Conferência de
Viena, "universalizados" pelo consenso de todos os
Estados, eles se afiguram ainda mais como valores transculturais
atualíssimos ao se observar o procedimento, nacional e
internacional, das ONGs a eles dedicadas. É com base na Declaração
Universal de 1948 e nos tratados e declarações por ela
propiciados que todas essas organizações privadas das mais
diversas origens – fenômeno também planetário do mundo
contemporâneo – procuram promover seus objetivos públicos, na
área dos direitos individuais dentro de cada Estado, ou na defesa
dos direitos coletivos de grupos específicos.
Se, conforme ensina
Foucault, o Direito foi inventado como uma forma de legitimação
do poder estatal na "Idade Clássica", deixariam os
direitos humanos de ser uma afirmação do indivíduo contra esse
mesmo poder? Talvez sim, talvez não, dentro do contexto da Revolução
Francesa, em sua fase napoleônica. Mas não numa época como a
nossa, em que tais direitos são reconhecidos internacionalmente e
se tornam passíveis de cobranças internas e interestatais,
limitando significativamente o arbítrio do poder constituído.
Mas ainda, com as interpretações a eles conferidas pelas Declarações
de Viena de 1993 e de Beijing de 1995, deixariam de ser dirigidos
apenas contra o Estado. Ao proteger mais claramente os direitos da
mulher, das crianças, dos indígenas e das minorias oprimidas
dentro das sociedades nacionais, os direitos humanos tornaram-se
também instrumentos contra a "capilaridade do poder",
exercido por agentes não-estatais. E cabe não somente ao Estado,
mas à sociedade como um todo, a obrigação de evitar a violação
difusa desses direitos específicos.
Se, conforme
Derrida, a Justiça é uma referência indefinida para a aplicação
do Direito e uma aporia que se impõe mas não pode ser legalmente
prescrita na forma de direitos e deveres,38 a Declaração
de 1948, com seu formato de manifesto, pode, ao menos, oferecer
algum tipo de baliza. Afinal, nela se banham, atualmente, em maior
ou menor grau, praticamente todas as civilizações. Da mesma
forma, tendo em conta as preocupações de Lyotard, a Declaração
pode ser vista, desde sua "universalização" pela
Conferência de Viena e pelo recurso que a ela fazem as minorias
"sem voz", como um instrumento aceitável de convergência
de todas as micronarrativas e jogos de linguagem.
Até mesmo,
portanto, para os pós-estruturalistas convictos ou pós-modernos
exigentes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos abre
caminhos inestimáveis. Na mesma medida em que o pós-estruturalismo
se propõe emancipatório, o multiculturalismo que ele
justificadamente endossa não pode ser indiferente às opressões
de culturas extra-ocidentais. Nem pode a pós-modernidade, como
continuação ou superação do racionalismo humanista, tornar-se
fundamentalista, aceitando como inelutáveis as crueldades
aberrantes de qualquer comunidade, ou do integrismo eficientista
do mercado globalizado.
A cinqüentenária
Declaração Universal dos Direitos Humanos não é uma fórmula mágica,
nem um decálogo sacrossanto. Seu preâmbulo e seu artigo 1º soam
hoje, em dúvida, demasiado metafísicos. Segundo os ensinamentos
dominantes no pensamento contemporâneo, as pessoas não nascem
"livres e iguais" em nenhuma parte do planeta, nem compõem
propriamente uma "família humana". A realidade
demonstra também que os direitos nela entronizados não são
consistentemente respeitados em nenhuma comunidade, nacional ou
eletiva, real ou imaginária. Mas o Direito é, afinal, um
discurso normativo que apenas aspira a conformar a realidade. Dada
a força persuasiva e liberatória que ela tem demonstrado, ao
longo de cinco décadas, para indivíduos e coletividades, a
Declaração de 1948 precisa ser mantida como está. Rediscuti-la
seria abrir uma caixa de Pandora, em momento propício para todos
os demônios.
Sem manipulações
esdrúxulas, a Declaração dos Direitos Humanos precisa, sim, ser
fortalecida, como o foi nas grandes conferências desta década,
de Viena (sobre direitos humanos), Cairo (sobre população),
Copenhague (sobre desenvolvimento social), Beijing (sobre a
mulher) e Istambul (sobre assentamentos humanos),39 naquilo
que ela procura ser: um mínimo denominador comum para um universo
cultural variado, um parâmetro bem preciso para o comportamento
de todos, um critério de progresso para as contigências
desiguais de um modo reconhecidamente injusto, um instrumento para
a consecução dos demais objetivos societários sem que estes
desconsiderem a dimensão humana.
Apesar de seu tamanho limitado, A
Declaração Universal dos Direitos Humanos é, ainda, e deve
permanecer, uma Grande Narrativa. Na condição pós-moderna deste
final de milênio, ela parece ser a única que resta.
_________
* José
Augusto Lindgren Alves é diplomata, Cônsul Geral do Brasil em São
Francisco, Estados Unidos, ex-Diretor Geral do Departamento de
Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações
Exteriores.
1. Conforme
proposição de René Cassim (v. M. Glen Johnson, Writing the
Universal Declaration of Human Rights, In: The Universal
Declaration of Human Rights: 45th anniversary 1948-1993,
UNESCO, 1994, p. 67-68). A Declaração de 1948 é o único
instrumento de direitos humanos que se autoproclama
"universal"; todos os demais são intitulados
"internacionais".
2. O Movimento dos
Não-Alinhados não existia; a China presente era a República
insular de Chang Kai-chek; o Líbano era governado por cristãos;
a Índia acabava de tornar-se independente e a América Latina não
tinha ainda qualquer posição terceiro-mundista (a própria noção
de "Terceiro Mundo" não existia).
3. Para se
aquilatar, ainda que de maneira imprecisa, o grau de absorção da
noção de direitos humanos pelas populações não-ocidentais
basta observar a quantidade de ONGs afro-asiáticas que atualmente
acompanhavam as deliberações da Comissão dos Direitos Humanos
das Nações Unidas, sua atuação nos foros paralelos das grandes
conferências internacionais e as denúncias de violações em países
próprios ou alheios encaminhadas por elas, regularmente, ao
Secretariado da Alta Comissária para os Direitos Humanos, em
Genebra.
4. O direito dos
povos à autodeterminação, com que se abrem os dois Pactos
Internacionais de Direitos Humanos, foi o primeiro "direito
de terceira geração" acolhido no Direito Internacional.
Isso se explica porque a autodeterminação da respectiva
comunidade era, e ainda é, reputada essencial à vigência
efetiva dos demais direitos.
5. No caso da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial, os países afro-asiáticos, foram, de
fato, os iniciadores. Nas demais, o grau de adesão é variável,
embora tenham participado da elaboração de todas,
entusiasticamente ou a contragosto. A Convenção sobre os
Direitos da Criança, de 1989, é a única que já obteve ratificação
praticamente universal: faltam apenas as da Somália, país
esfacelado por guerras intestinas, e dos Estados Unidos.
6. A exceção
mais insistente é do Primeiro Ministro da Malásia Mahathir
Mohamad, que em 1997 ainda propunha a elaboração de uma nova
Declaração.
7. Um exemplo
notável desse tipo de atuação construtiva tem sido o das
campanhas hoje realizadas por países africanos para a erradicação
da prática "cultural" da clitoridectomia. O exemplo é
tanto mais significativo quando se leva em conta que
personalidades históricas da estrutura de um Jomo Kenyata e
outros heróis da luta anticolonial incluíam tal tradição no
ativo cultural de sua gente – assim como o fazem ainda hoje imãs
"integristas" do mundo muçulmano.
8. Os próprios
Estados Unidos, em fase de expansão econômica e desemprego
decrescente, ostentam hoje um número de mendigos incomum nas décadas
passadas, além de uma população carcerária de mais de um milhão
e meio (a maior do mundo).
9. Na verdade,
não é apenas a indústria tradicional que se extraterritorializa
em busca de mão-de-obra barata. A da informática também o faz,
quando isso lhe é vantajoso, seja exportando fábricas de hardware,
seja importando quadros especializados ou especializáveis. A
maior batalha do Vale do Silício californiano com o Congresso
norte-americano tem sido para aumentar a quota de imigração de
especialistas, particularmente indianos, capazes de suprir suas
necessidades a custos baixos.
10. Os estereótipos
são recorrentes. A superpopulação é sempre asiática ou
latino-americana. A origem da AIDS tinha que ser africana. O
garimpeiro brasileiro é mais daninho ao meio-ambiente do que as
indústrias e o consumo dos países superindustrializados. O negro
e o asiático fumam, bebem e se drogam mais do que o branco. A
responsabilidade pelo narcotráfico é a produção do Terceiro
Mundo, não a demanda universal. Os pais de famílias miseráveis
que põem os filhos para trabalhar ou se prostituir fazem-no,
provavelmente, porque são malvados. O fanatismo religioso é
particularidade de povos primitivos, fora da civilização
judaico-cristã, pois os integrismos protestantes, católico e
israelita são, com certeza, sadios. O terrorismo é fenômeno
quase sempre muçulmano, enquanto a Ku-Klux-Klan, as
"milícias" norte-americanas e o neonazismo europeu são
tolerados e legais. O Rio de Janeiro, com sua população
favelada, é, naturalmente, a cidade mais violenta do mundo.
A criminalidade
comum realmente não tem estereótipos de localização
privilegiada. Mas tanto nas sociedades ricas, como nas emergentes,
é vista de forma reducionista como "coisa de pobres",
desconsiderando-se como irrelevante o fato de serem eles também
as vítimas mais numerosas. Desconsideram-se, também, como menos
ameaçadores os crimes "de colarinho branco", não
obstante o raio incomparavelmente maior de seu alcance.
11. Nas eleições
primárias estaduais para o Senado dos Estados Unidos, em setembro
de 1998, apenas 17% do eleitorado do Estado de Nova York
compareceram às urnas; 20% de Minnesota e 30% do estado de
Washington, segundo dados publicados no San Francisco Examiner,
edição de 17.9.1998, em matéria intitulada Primaries find
U.S. voters no more apathetic than usual ("não menos apáticos"
apesar dos escândalos amorosos envolvendo o Presidente da República).
12. Os dois
temas serão retomados adiante. Por ora basta atentar para os
absurdos praticados pelos Estados nacionais em nome da
metanarrativa do progresso (os exemplos paroxísticos foram o
nazismo e o stalinismo), assim como para a aceitação negligente
– ou conivente – pelas autoridades estatais das discriminações
e agressões internas, inclusive contra a mulher.
13. Esse fenômeno
é apenas incipiente no Brasil, cuja sociedade nacional,
felizmente, ainda funciona como verdadeiro melting pot,
apesar das aberrações históricas não-resolvidas em matéria de
distribuição de renda e da persistência de preconceitos vários,
mais ou menos velados.
14. Não
confundir com os islamitas, sinônimo vernacular de muçulmano. Os
islamistas, com o segundo s, na terminologia corrente, são os
fundamentalistas islâmicos que se propõem conquistar o poder político,
pela força ou em eleições.
15. É
significativo, por exemplo, o esforço – bem sucedido – do
movimento internacional de mulheres para que as Conferências de
Viena e de Beijing reconhecessem os direitos específicos da
mulher como parte integrante dos direitos humanos (art. 18 da
Declaração de Viena e art. 14 da Declaração de Beijing).
16. Não é
preciso ter, aliás, a sofisticação de um Derrida para fazê-lo.
Este, por sinal, embora já tenha até esboçado uma "desconstrução",
confusa mas positiva, da Declaração de Independência dos
Estados Unidos (Jacques Derrida, Desclarations of independence,
trad. Tom Keenan & Tom Pepper, New Political Science,
Nova York: Columbia University, Summer 1986), parece haver optado
por deixar a Declaração Universal de 1948 em paz. Terá tido
sobejas razões para isso.
17. Conforme já
assinalado na nota 13 supra, este não é ainda, nem precisa ser
no futuro, o caso do Brasil. Não é improvável, porém, que tal
venha a ocorrer também na sociedade brasileira, seja por evolução
autônoma, seja pela contaminação que os fenômenos do Primeiro
Mundo costumam provocar em praticamente todo o planeta.
18. Daí a máxima
kantiana: "Sapere aude! Tem coragem de te servires de
teu próprio entendimento!" (Agapito Maestre, ed. e trad., Qué
es ilustración?, Madri: Tecnos, 1988, p. 17).
19. A frase, célebre,
é do texto "O Dezoito Brumário de Louis Bonaparte"
(David Mclellan, ed, Karl Marx, Selected Writing, Nova
York: Oxford University Press, 1977, p. 300).
20. Jean-François
Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoir,
Paris: Les Editions de Minuit, 1979, p. 7-11. A expressão
empregada por Lyotard é "metadiscurso",
generalizadamente interpretada como as "grandes
narrativas" totalizantes.
21. Coletâneas
significativas podem ser encontradas, por exemplo, em dois volumes
de palestras e estudos organizados pela Anistia Internacional e
publicados em Nova York pela Basic Books, em 1993: (a) Barbara
Johnson, ed, Freedom and interpretation: the Oxford Amnesty
Lectures 1992; (b) Stephen Shute & Susan Hartley, ed, On
Human Rights: the Oxford Amnesty Lectures 1993.
22. Na
Subcomissão das Nações Unidas para a Prevenção da Discriminação
e Proteção às Minorias, em 1996, quando da consideração do
anteprojeto de Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas
a ser encaminhado à Comissão dos Direitos Humanos, chamei a atenção
dos colegas redatores do texto para a falta de atenção para com
os direitos das mulheres indígenas, freqüentemente massacradas
ou maltratadas pelas tradições tribais. Minha observação,
provocada por chamamento que me fizeram indígenas
centro-americanas presentes à reunião, caiu em ouvidos moucos.
De um colega latino-americano escutei a afirmação de que as
culturas autóctones têm que ser preservadas em sua
integralidade, inclusive quando praticam o infanticídio. Esse
mesmo "perito" da Subcomissão não hesitava, porém, em
patrocinar resoluções condenando países muçulmanos pela
discriminação contra as mulheres, o Irã pela perseguição aos
bahais, a Argélia pelas brutalidades do Governo e dos
fundamentalistas ou a Turquia por excessos no combate à insurgência
curda.
23. É o caso,
entre outros, de Gustavo Esteva e Madhu Suri Prakash (Grassroots
post-modernism: remaking the soil of cultures/i>, Londres e Nova
York: Zed Books, 1998), que rejeitam o Estado nacional como um
todo e os direitos humanos como "cavalo de Tróia da
recolonização", em defesa de culturas tradicionais do
Terceiro Mundo, como única esperança contra o "Projeto
Global" de dominação do mundo pelo Ocidente capitalista. Em
seu afã anti-imperialista, criticam até mesmo os direitos econômicos
e sociais (no que se identificam às posturas do liberalismo
ocidental mais radical) e justificam, quando tradição autóctone,
a prática da tortura.
24. O caderno Mais!
da Folha de São Paulo trouxe, na edição de 23.8.1998,
matéria de Marcos Nobre, sob o título "Mulheres revêem
direitos da humanidade", na qual se reproduz entrevista com a
militante italiana Gabriella Bonachi, assim como trechos de
anteprojeto "pós-moderno" de uma nova Declaração
Universal dos Direitos Humanos. O texto é muito bem redigido e
foi apresentado à Comissão dos Direitos Humanos das Nações
Unidas como uma contribuição às comemorações do cinqüentenário
da Declaração Universal (Documento E/CN. 4/1998/3). Temo, porém,
que possa ser confundido com uma proposta de reforma da Declaração
de 1948. Ou manipulado pelos defensores dos chamados "valores
asiáticos" como "mais uma evidência" de que a
Declaração Universal precisa ser refeita. Depois da verdadeira
"batalha" havida na Conferência de Beijing, em 1995,
para o reconhecimento dos direitos das mulheres como parte
integrante dos direitos humanos universais, nesta época de
fundamentalismos exacerbados, qualquer renegociação da Declaração
de 1948 pode representar o fim da base legal do Direito
Internacional dos Direitos Humanos e da luta planetária pelos
direitos fundamentais de todos os seres humanos, e das mulheres em
particular.
25. Uma concepção
multicultural de direitos humanos. Lua Nova, São Paulo,
CEDEC, n. 39,
p. 115-122, 1997.
26. Michel
Foucault, What is Enlightenment? Trad. Catherine Porter. In: Paul
Rabinow, ed. The Foucault Reader. New York: Pantheon Books,
1984. p. 50.
27. Daí o rótulo
de neoconservadores que os pós-estruturalistas receberam de
Habermas, a rejeição de suas idéias pela esquerda tradicional,
também sem dúvida, o entusiasmo com que elas foram acolhidas nos
meios acadêmicos defensores do status quo. O que não
invalida, por outro lado, a contribuição que trouxeram às lutas
identitárias contemporâneas das minorias oprimidas e a uma
compreensão desmistificada da própria modernidade.
28. Jacques
Derrida, Force de loi: le fondement mystique de l’autorité. In:
Deconstrucion and the possibility of justice, Cardozo
Law Review, v. 11, n. 5-6, jul./ago. 1990. p. 972.
29. Id., ibid.,
p. 944.
30. Para uma
análise pormenorizada dos possíveis efeitos do pensamento de
Derrida, Lyotard, Foucault, Nietzche e Rorty na aplicação do
Direito. (v. Douglas E. Litowitz, Postmodern Philosophy &
Law, University Press of Kansas, 1997).
31. Jean-François
Lyotard, The Other’s Rights, trad. Chris Miller & Robert
Smith, On human rights: the Oxford Amnesty Lectures 1993
(v. nota 21 supra).
32. Deconstruction
and human rights. In: Freedom and interpretation: the Oxford
Amnesty Lectures 1992 (v. nota 21 supra), p. 122.
33. Human
rights, rationality and sentimentality. In: On human rights:
the Oxford Amnesty Lectures 1993 (v. nota 21 supra), p.
111-134.
34. Os
direitos de terceira geração, ou direitos de solidariedade (como
o direito à autodeterminação e o direito ao desenvolvimento),
podem ser encarados como complementação explicativa do campo de
aplicação das duas primeiras, já que não alteram em nada a
substância dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais.
35. Norberto
Bobbio, A era dos direitos, trad. Carlos Nelson Coutinho,
Rio de Janeiro: Campus, 1992,
p. 24. A versão
original do ensaio "Sobre o fundamento dos direitos
humanos" foi apresentada em simpósio italiano realizado em
1964. A terminologia (seja italiana em geral, seja de Bobbio em
particular, ou de seu tradutor para o português) "direitos
do homem" acha-se defasada em relação à expressão hoje em
dia consagrada nos documentos da ONU (human rights, derechos
humanos), com exceção dos "droits de l`homme"
ainda mantidos nas versões em francês.
36. O aceno ao
Ocidente feito pelo Presidente Khatami sobre a matéria em
setembro de 1998, por ocasião de abertura da Assembléia Geral da
ONU, e que levou ao restabelecimento de relações entre a Grã-Bretanha
e o Irã, dizia apenas que o Governo não iria executá-la. Não
houve revogação da sentença "sagrada" de morte,
determinada por aiatolá falecido, irrevogável e passível de
execução por qualquer fiel, como logo esclareceram os doutores
da ortodoxia xiita.
37. Gilberto
Sabóia, O Brasil e o sistema internacional dos direitos humanos.
In: Textos do Brasil, Edição Especial, v. 2, n. 6, Brasília,
Palácio Itamaraty, maio/agosto, 1998.
|