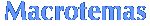



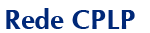
|
O
que é o
TRIBUNAL
PENAL INTERNACIONAL
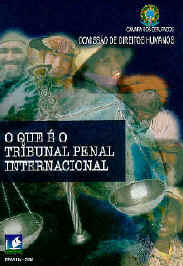
Comissão
de Direitos Humanos
Câmara dos Deputados
fevereiro de 2000
APRESENTAÇÃO
Uma das principais lutas travadas
pela Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados no âmbito internacional
tem sido a campanha pela criação do
Tribunal Penal Internacional (TPI).
Em 1999 essa meta foi perseguida com
a realização de diferentes eventos e
articulações. Representantes da Comissão
defenderam a aplicação mais efetiva
do princípio da justiça universal por
meio da criação de um tribunal penal
permanente, capaz de se sobrepor às
jurisdições internas de cada país. Esta
nova jurisdição, é preciso ressaltar,
não é estrangeira, mas internacional,
da qual todo Estado-Parte é titular.
Ao admitir essa jurisdição, não estaremos,
portanto, sacrificando nada de nossa
soberania nacional, mas complementando
nossos esforços para a efetivação dos
direitos humanos tão valorizados em
nossa Constituição.
Os tribunais temporários ad hoc criados após conflitos
já instaurados, como o de Nuremberg,
que julgou os criminosos da II Guerra
Mundial, e mais recentemente, o de Ruanda
e o da Ex-Iuguslávia, para apreciar
os crimes ocorridos na Bósnia e Kosovo
diferem-se do TPI. Este será permanente
e com jurisdição para todos os países
membros da ONU. Processará e julgará
pessoas físicas que tenham cometido
crimes graves como o de genocídio, crimes
de guerra, contra a humanidade e de
agressão.
A globalização ora em curso
no campo econômico demanda a correspondente
globalização no campo dos Direitos Humanos.
E a efetivação universal dos direitos
humanos requer instâncias jurídicas
capazes de julgar os violadores dos
direitos da pessoa humana. A importância
deste Tribunal é manifesta principalmente
num momento em que o mundo assiste ao
ressurgimento de conflitos armados em
decorrência de questões étnicas e religiosas.
Se já existisse esta Corte
Penal Internacional, o ex-general Augusto
Pinochet, responsável por uma das ditaduras
mais sanguinárias da América Latina,
seria certamente um dos réus submetidos
à jurisdição internacional. Em setembro
de 1973, o ex-general deu início
a um golpe militar contra o Chile do
governo socialista Salvador Allende,
que culminou na morte de 3.197 militantes
de esquerda. A barbárie durou 15 anos,
sem que a justiça chilena condenasse
os culpados responsáveis pelo golpe
e violações que se sucederam. Foi preciso
que outros países tomassem a iniciativa
em punir, visto que, pela jurisdição
interna, os crimes cometidos ficariam
anistiados e prescritos, dadas as contingências
políticas do Chile.
Ao que pese a idade avançada
e a saúde debilitada do ex-ditador,
a prisão de Pinochet em Londres e sua
extradição significou um passo importante
para demonstrar a relevância de uma
justiça internacional, imparcial
e forte, que consiga fazer os direitos
humanos soprepujarem o direito interno
de cada país. Se a justiça nacional
não pune seus criminosos, há de haver
uma justiça no plano internacional capaz
de priorizar os valores da vida, liberdade
e democracia. Desta forma, o Tribunal
representará um expressivo avanço, um
freio a inibir o surgimento de carrascos
e ditadores e um meio de punir os que
surgirem.
Obviamente, a jurisdição será
incidente em casos raros, quando o país
demonstrar omissão em processar os acusados
e desrespeitar a legislação penal e
processual interna.
Em julho de 1998, na Conferência
Diplomática de Plenipotenciários das
Nações Unidas, em Roma, foi aprovado
o Estatuto do Tribunal, o qual estabelece
as condições de funcionamento desta
jurisdição criminal internacional. O
Estatuto define as regras e princípios
em que o futuro Tribunal irá funcionar.
O Brasil,
através de seu corpo diplomático, mesmo
antes desta conferência já participava
de uma Comissão Preparatória para o
Estabelecimento de um Tribunal Penal
Internacional e teve atuação destacada
no processo de criação deste Tribunal.
Podemos dizer que nossos representantes
internacionais tudo fizeram para colocar
em pratica o art. 7º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição
Federal, que preceitua: "O Brasil
propugnará pela formação de um tribunal
internacional dos direitos humanos".
No final de 1999, a Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados
se fez representar, por este presidente,
na terceira reunião da Comissão Preparatória
para o Estabelecimento de um Tribunal
Penal Internacional na sede da ONU,
em Nova Iorque. Convidado por uma organização-não
governamental internacional, a "Parliamentarians
For Global Action", participamos
desse importante
evento em que debatemos como as legislações
nacionais devem se adaptar à nova jurisdição
internacional. Voltamos convictos de
que os óbices que têm sido apresentados
nesse sentido podem facilmente ser removidos,
caso haja vontade política para fazer
prevalecer os valores e princípios maiores,
derivados da Declaração Universal dos
Direitos Humanos e claramente contemplados
pela nossa Constituição.
Este, aliás, foi o entendimento
geral observado na Audiência Pública
realizada pela Comissão de Direitos
Humanos em 2 de fevereiro de 2000. Representantes
dos organismos de Estado ligados aos
direitos humanos, bem como os parlamentares
e ativistas presentes, não opuseram
barreiras para a harmoniosa adaptação
de nosso ordenamento jurídico à jurisdição
da nova corte internacional.
Em 7 de fevereiro de 2000 o Brasil
assinou o tratado referente ao estatuto
de Roma. Em breve, o Congresso Nacional
deverá apreciar a futura ratificação.
Estaremos dando um passo histórico decisivo
na evolução dos Direitos Humanos.
Deputado
Nilmário Miranda
Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Volta
ao sumário
PARA
UMA MELHOR COMPREENSÃO
DO PAPEL DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
O leitor terá, a seguir, três
artigos extremamente instrutivos, cada
qual com uma abordagem específica, úteis
para uma melhor compreensão do papel
a ser exercido pelo Tribunal Penal Internacional.
O histórico dos debates que culminaram
na estruturação da proposta do Estatuto
do TPI, suas bases jurídicas e suas
funções, bem como a notável participação
brasileira nas reuniões preparatórias
estão aí relatados com confiabilidade
por algumas das principais autoridades
no assunto.
A Dra. Sylvia H. F. Steiner é
desembargadora federal, especialista
em Direito Penal pela UnB e mestre em
Direito Internacional pela USP, além
de membro do Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais e da Associação Juízes
para a Democracia.
O professor Tarciso Dal Maso
Jardim é especialista em Direito Internacional.
Ele participou, como observador representante
do Movimento Nacional de Direitos Humanos,
da Conferência Diplomática das Nações
Unidas, em Roma, em 1998, quando foi
aprovado o Estatuto do Tribunal.
O professor Antônio Paulo Cahapuz
de Medeiros, por sua vez, é consultor
jurídico do Ministério das Relações
Exteriores e doutor em Direito Internacional
pela USP. Ele chefiou as delegações
brasileiras às Reuniões da Comissão
Preparatória do Tribunal Penal Internacional.
A Comissão de Direitos Humanos
solicitou aos três professores artigos
que resumem palestras por eles pronunciadas
em audiência pública acerca do tema,
os quais transcrevemos a seguir.
Volta
ao sumário
O
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E A CONSTITUIÇÃO
BRASILEIRA
Antônio
Paulo Cachapuz de Medeiros
O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional é uma convenção multilateral,
celebrada com o propósito de constituir um tribunal internacional,
dotado de personalidade jurídica própria,
com sede na Haia.
O Estatuto
compõe-se de preâmbulo e treze partes
(I-estabelecimento do Tribunal; II-competência,
admissibilidade e direito aplicável;
III-princípios gerais de Direito Penal;
IV-composição e administração do Tribunal;
V-inquérito e ação penal; VI-processo;
VII-penas; VIII-recurso e revisão; IX-cooperação
internacional e auxílio judiciário;
X-execução da pena; XI-Assembléia dos
Estados Partes; XII-financiamento; XIII-cláusulas
finais), com um total de 128 artigos.
O preâmbulo proclama a determinação
dos Estados em criar um Tribunal Penal
Internacional, com caráter permanente e independente, complementar
das jurisdições penais nacionais,
que exerça competência sobre
indivíduos, no que respeita aos crimes mais graves que afetem o conjunto da comunidade internacional.
Esses crimes, que não prescrevem,
são os seguintes: crime de genocídio,
crimes contra a humanidade, crimes de
guerra e crime de agressão. O Tribunal
só terá competência relativamente aos
referidos crimes cometidos após a entrada
em vigor do Estatuto. Se um Estado se tornar
Parte no Estatuto
depois da sua entrada em vigor, o Tribunal
só poderá exercer a sua competência
em relação aos crimes cometidos depois
da entrada em vigor do Estatuto nesse Estado.
Segundo o Estatuto, o Tribunal será pessoa de Direito Internacional e terá a
capacidade jurídica necessária ao desempenho
de suas funções e à realização de seus
objetivos. Seu vínculo às Nações Unidas
se dará mediante um acordo, a ser aprovado
pela Assembléia dos Estados Partes no
Estatuto e assinado pelo
Presidente do Tribunal em nome deste.
Inicialmente, o Tribunal Penal
Internacional será integrado por 18
juízes, número que poderá ser aumentado
ou diminuído por proposta do Presidente,
mediante aprovação da Assembléia dos
Estados Partes. É esta também que elegerá
os juízes, de nacionalidades diferentes,
para um mandato de nove anos, vedada
a reeleição. No primeiro escrutínio,
um terço dos juízes será eleito para
mandato de três anos, um terço para
mandato de seis e um terço para mandato
de nove anos. Um juiz eleito para mandato
de três anos ou para prover vaga em
período igual ou inferior a três anos,
poderá ser reeleito para mandato completo
de nove anos. Os juízes serão independentes
no desempenho de suas funções.
O Tribunal será composto pelos
seguintes órgãos: a) A Presidência;
b) Uma Seção de Recursos, uma Seção
de Primeira Instância e uma Seção de
Questões Preliminares; c) o Gabinete
do Promotor; d) a Secretaria.
Destaca-se na composição do Tribunal
a figura do Promotor, que será eleito
em escrutínio secreto por maioria absoluta
de votos pela Assembléia dos Estados
Partes, para mandato de nove anos, vedada
a reeleição. Caberá ao Promotor recolher
comunicações e qualquer outro tipo de
informação, devidamente corroborada,
sobre crimes da competência do Tribunal,
a fim de os examinar, investigar e de
exercer a ação penal junto ao Tribunal.
Cumprirá suas funções com toda a imparcialidade
e liberdade de consciência, assim como
os juizes.
Os Estados Partes no Estatuto
deverão cooperar plenamente como Tribunal
na investigação e no julgamento de crimes
de sua competência, bem como assegurar-se
de que seu Direito Interno preveja procedimentos
aplicáveis a todas as formas de cooperação
especificadas no Estatuto.
O Tribunal decidirá sobre a não
admissibilidade de um caso, se este
for objeto de inquérito ou de processo
no Estado que tiver jurisdição sobre
o mesmo, salvo se este não estiver disposto
a levar a cabo a investigação ou o processo
ou não tiver capacidade para o fazer;
ou se o caso tiver sido objeto de inquérito
pelo Estado que tiver jurisdição sobre
o mesmo e este decidiu não continuar
a ação penal contra a pessoa em causa,
a menos que esta decisão resulte do
fato de que esse Estado não está disposto
a levar a cabo o processo ou da sua
incapacidade para o fazer; ou a pessoa
em causa tiver sido já julgada pelo
comportamento a que se refere a denúncia;
ou o caso não for suficientemente grave
que justifique a adoção de outras medidas
pelo Tribunal.
Para determinar se um Estado
demonstra ou não vontade de agir em
um determinado caso, o Tribunal verifica
se o processo foi instaurado ou está
pendente, ou se a decisão nacional foi
adotada com o propósito de subtrair
a pessoa em causa à sua responsabilidade
penal por crimes da competência do Tribunal;
se houve demora injustificada no processo
que, dadas as circunstâncias, seja incompatível
com a intenção de fazer comparecer a
pessoa em causa ao Tribunal; ou, se
o processo não foi ou não está sendo
conduzido de maneira independente ou
imparcial, mas de uma maneira que, dadas
as circunstâncias, seja incompatível
com a intenção de fazer comparecer a
pessoa em causa ao Tribunal.
Acima de tudo, a fim de determinar
a admissibilidade de um caso, o Tribunal
verifica se o Estado, por colapso total ou substancial da respectiva
administração nacional da Justiça ou
indisponibilidade desta, não está
em condições de fazer comparecer em
juízo o acusado, de reunir os meios
de prova e depoimentos necessários,
ou não está, por outros motivos, em
condições de concluir o processo.
O Estatuto confere ao Conselho de Segurança das Nações Unidas a faculdade
de solicitar ao Tribunal, mediante resolução
aprovada nos termos do disposto no Capítulo
VII da Carta da ONU, que não inicie
ou que suspenda, por um prazo não superior
a doze meses, o inquérito ou o processo
que tiver sido iniciado. O pedido pode
ser renovado por períodos iguais e o
Tribunal fica obrigado a não iniciar
o inquérito ou a suspender o processo.
Existirá uma Assembléia dos Estados
Partes, que se reunirá na sede do Tribunal
ou na sede da ONU uma vez por ano, ou,
extraordinariamente, sempre que as circunstâncias
o exigirem. Cada Estado Parte terá um
voto na Assembléia. Suas funções concentram-se
no estabelecimento de linhas de orientação
geral no que toca à administração do
Tribunal e no exame e aprovação do orçamento
do mesmo.
As despesas do Tribunal serão
financiadas pelas quotas dos Estados
Partes e pelos fundos provenientes da
ONU.
O Estatuto veda expressamente a possibilidade de sua ratificação com
reservas.
Está aberto à assinatura de todos
os Estados na sede da ONU, em Nova York,
até 31 de dezembro de 2000.
Entrará em vigor no primeiro
dia do mês seguinte ao termo de um prazo
de 60 dias após a data do depósito do
sexagésimo instrumento de ratificação,
de aceitação, de aprovação ou de adesão
junto ao Secretário-Geral das Nações
Unidas.
Sete anos após a entrada em vigor
do Estatuto, o Secretário-Geral das
Nações Unidas convocará uma Conferência
de Revisão, para examinar eventuais
alterações ao texto.
Estão ainda pendentes de aprovação
os “elementos dos crimes”, que ajudarão
o Tribunal a interpretar e aplicar as
regras do Estatuto
que tipificam os crimes; as “regras
de processo e prova”; e a definição
do “crime de agressão”. Os “elementos
dos crimes” e as “regras de processo
e prova” serão objeto de aprovação por
maioria de dois terços da Assembléia
dos Estados Partes. Por isso, continua
em atividade a PrepCom,
visando preparar esses componentes essenciais
ao funcionamento do Tribunal.
A criação de um tribunal internacional
permanente para processar e julgar indivíduos
acusados de cometer graves crimes que
constituam infrações ao próprio Direito
Internacional – genocídio, crimes contra
a humanidade, crimes de guerra e crime
de agressão – constitui antiga aspiração
da sociedade internacional.
Os atentados hediondos praticados
contra a dignidade do ser humano durante
a Segunda Guerra Mundial exigiram que
fossem instituídos os tribunais de Nurembergue
e de Tóquio. Recentemente, o Conselho
de Segurança das Nações Unidas, com
a participação e o voto favorável do
Brasil, impulsionou a criação de mais
dois tribunais criminais temporários:
um para julgar as atrocidades praticadas
no território da antiga Iugoslávia e
outro para julgar crimes de idêntica
gravidade cometidos em Ruanda.
Não obstante a consciência coletiva
de que atos monstruosos contra a humanidade
merecem a devida punição, os tribunais
acima mencionados não ficaram imunes
à críticas contundentes em virtude de
seu caráter temporário. Referindo-se
ao Direito Internacional Penal, Celso
de Albuquerque Mello assevera no seu
Curso de Direito Internacional Público:
“é
de se salientar que este Direito é extremamente
fraco devido à ausência de uma justiça
internacional penal”.
O
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional
pretende suprir essa lacuna apontada
pelos maiores expoentes da doutrina
do Direito Internacional.
Uma das principais qualidades
do Estatuto reside na afirmação
do princípio
da responsabilidade penal de indivíduos
pela prática de delitos contra o Direito
Internacional. Situar o indivíduo
como sujeito de direitos e deveres
no plano internacional constitui idéia
corrente desde os tempos em que Hugo
Grotius lançou as bases do moderno Direito
das Gentes. O grande jurista holandês
divergiu da noção corrente no século
passado – com vertentes ainda vivas
na atualidade – de que o Direito Internacional
deve restringir-se a disciplinar as
relações entre os Estados. A evolução
acelerada da proteção internacional
dos Direitos Humanos após a Segunda
Guerra Mundial conduziu a profundas
alterações sobre o papel do indivíduo
no cenário internacional, enfatizando
, primeiramente, os direitos, e, a seguir,
os deveres individuais. Destarte, a
idéia de que os indivíduos devem ser
responsabilizados no plano internacional
em virtude de crimes contra o próprio
Direito das Gentes não é nova. O Estatuto de Roma agrega, porém,
um contexto surpreendente.
Pela primeira vez às definições
dos crimes, um tratado internacional
acrescenta princípios gerais de Direito
Penal e claras regras de Processo Criminal.
Esse acréscimo supre lacuna das
Convenções de Genebra de 1949, sempre
criticadas por terem dado muito pouca
atenção às normas substantivas e adjetivas
da Ciência Jurídica Penal.
Na Conferência de Roma, realizada
entre 15 de junho e 17 de julho de 1998,
que resultou na adoção do Estatuto do Tribunal Penal Internacional,
a delegação brasileira foi chefiada
pelo Embaixador Gilberto Sabóia, com
ampla experiência em negociações multilaterais.
Segundo Roy S. Lee, pesquisador
imparcial, que recentemente publicou
a extensa obra “The International Criminal Court – The Making of the Rome Statute”
(The Hague: Kluwer, 1999), o Brasil
“permanentemente expressou seu firme
apoio ao estabelecimento da nova jurisdição.
Durante a Conferência, coordenou dois
grupos informais de negociações sobre
tópicos relevantes para o futuro funcionamento
do tribunal. Um desses grupos dedicou-se
aos poderes do Promotor, particularmente
aos poderes ‘ex-officio’. O outro grupo
examinou a questão capital das armas
arroladas na definição de crimes de
guerra”.
Ao final da Conferência, o Brasil
somou-se aos 120 Estados que votaram
a favor da adoção do Estatuto
de
Roma ( houve 7 votos contrários e
21 abstenções).
Nas palavras do Subsecretário-Geral
de Assuntos Políticos do Itamaraty,
Embaixador Ivan Cannabrava, em depoimento
à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados,
no dia 20 de maio do corrente ano, “no
entendimento do Governo brasileiro,
o texto aprovado contém os elementos
necessários ao estabelecimento de uma
Corte penal eficiente, imparcial e independente”.
Pelo ângulo do ordenamento constitucional
brasileiro, os pontos contidos no Estatuto de Roma que merecem consideração, com vistas a afastar qualquer
hipótese de incompatibilidade com o
texto da Lei Suprema de 1988, são os
seguintes: entrega de nacionais ao Tribunal
Penal Internacional; pena de prisão
perpétua; imunidades em geral e relativas
ao foro por prerrogativa de função.
Segundo o art. 58 do Estatuto
de Roma, após iniciada uma investigação
e se o Promotor requerer, poderá ser
expedido um mandado de prisão pela Câmara
de Questões Preliminares, sempre que
esta estiver convencida de que existe
base razoável para acreditar que o acusado
tenha efetivamente cometido um crime
sob a jurisdição do Tribunal e a prisão
for necessária para que o acusado compareça
em juízo. Com base no mandado de prisão
da Câmara de Questões Preliminares,
o Tribunal poderá requerer ao Estado
Parte no Estatuto ou a prisão provisória do acusado ou a prisão e entrega do acusado.
É essencial para que se garanta
a efetiva administração da Justiça Penal
Internacional que esta tenha a faculdade
de determinar que os acusados da prática
dos crimes reprimidos pelo Estatuto sejam colocados à disposição
do Tribunal. Seria inútil o esforço
de criar o Tribunal Penal Internacional
caso não se conferisse ao mesmo o poder
de determinar que os acusados sejam
compelidos a comparecer em juízo.
O Estatuto de Roma fixou um regime de cooperação entre os Estados Partes
e o Tribunal Penal Internacional, fundamental
para a viabilidade e o êxito da instituição.
Os Estados Partes estão obrigados a
cooperar plenamente com o Tribunal na investigação e no julgamento
dos crimes previstos no Estatuto.
Integra este dever de cooperação a obrigação
de prender e entregar os acusados
ao Tribunal. Para assegurar que o Direito
Interno facilite a capacidade do Estado
para atender às solicitações do Tribunal,
o Estatuto requer que os Estados
Partes garantam que no Direito Interno
existam procedimentos aplicáveis a todas
as formas de cooperação especificadas
no Estatuto (art. 88, IX). Os Estados
devem ser capazes de proporcionar ao
Tribunal uma cooperação expedita, sujeita
a menos formalidades do que usualmente
se aplica à cooperação judiciária entre
Estados.
Importante sublinhar que o
Tribunal Penal Internacional não será
uma jurisdição estrangeira, mas uma
jurisdição internacional, de cuja construção
o Brasil participa, e terá, portanto,
um vínculo muito mais estreito com a
Justiça nacional.
Segundo o art. 89, 1, do Estatuto,
os Estados Partes cumprirão os pedidos
de prisão e entrega segundo os procedimentos
do Estatuto e do Direito Interno. Por conseguinte, os procedimentos nacionais
para prisão de indivíduos continuarão
sendo aplicados, mas eventuais princípios
e normas sobre privilégios referentes
a cargos oficiais e de não-extradição
de nacionais não serão causas que desculpem
a falta de cooperação dos Estados Partes.
Por isso, o Estatuto distingue claramente entre extradição de um Estado para outro e entrega de um Estado para o Tribunal.
A diferença fundamental consiste
em ser o Tribunal uma instituição criada
para processar e julgar os crimes mais
atrozes contra a dignidade humana de
uma forma justa, independente e imparcial.
Na condição de órgão internacional,
que visa realizar o bem-estar da sociedade
mundial, porque reprime crimes contra
o próprio Direito Internacional, a entrega
ao Tribunal não pode ser comparada à
extradição.
Ademais, uma das principais causas
da não-extradição de nacionais – a idéia
de que não haverá imparcialidade na
Justiça estrangeira – não se aplica
ao Tribunal Penal Internacional, porque
neste os crimes estão nitidamente cominados
no Estatuto, suas normas processuais são as mais avançadas do Mundo e
qualquer tendência a politizar o processo
será controlada por garantias rigorosas.
Logo, a previsão de entrega de
nacionais ao Tribunal Penal Internacional,
estabelecida no Estatuto de Roma, não fere, salvo melhor juízo, o artigo 5º, LII,
da Constituição da República, que prescreve
que “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime
comum, praticado antes da naturalização,
ou de comprovado envolvimento em tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins,
na forma da lei”.
Já o artigo 77 do Estatuto
de Roma prevê a pena
de prisão perpétua quando justificada
pela “extrema gravidade do crime e as
circunstâncias pessoais do condenado”,
enquanto o artigo 5º, XLVII, “b”, da
Constituição da República, estabelece
que não haverá penas de caráter perpétuo.
A Constituição pátria prevê até
mesmo a pena de morte em caso de “guerra
declarada” (art. 5º, XLVII, “a”), mas
proíbe a pena de caráter perpétuo.
Contudo, na vigência da Constituição
de 1988, o Supremo Tribunal Federal
tem deferido extradições, sem ressalva,
para Estados onde está prevista a pena
de prisão perpétua para os crimes
imputados aos extraditandos. Entende
o pretório excelso que a esfera da nossa
lei penal é interna. Se somos benevolentes
com “nossos delinqüentes”, isso só diz
bem com os sentimentos dos brasileiros.
Não podemos impor o mesmo tipo de “benevolência”
aos Países estrangeiros.
A proibição constitucional da
pena de caráter perpétuo restringe apenas
o legislador interno brasileiro. Não
constrange nem legisladores estrangeiros,
nem aqueles que labutam na edificação
do sistema jurídico internacional.
No momento histórico em que foi
promulgada a Constituição brasileira
vigente (1988) não existia o Estatuto
de Roma do Tribunal Penal Internacional
(1998). Não poderia, pois, o constituinte
ter se debruçado sobre a questão da
pena de prisão perpétua aplicada por
tribunal internacional. Mas a Constituição
foi sábia, porque sustentou o princípio
da dignidade da pessoa humana como fundamento
da República brasileira ( art. 1º, III)
e propugnou pela formação de um “tribunal
internacional de direitos humanos” (
ADCT, art. 7º).
Parece-me, pois, convincente
a tese que sustenta que a colisão entre
o Estatuto de Roma e a Constituição
da República, no que diz respeito à
pena de prisão perpétua, é aparente,
não só porque aquele visa a reforçar
o princípio da dignidade da pessoa humana,
mas porque a proibição prescrita pela
Lei Maior é dirigida ao legislador interno
para os crimes reprimidos pela ordem
jurídica pátria, e não aos crimes contra
o Direito das Gentes, reprimidos por
jurisdição internacional.
A questão, ainda assim, é polêmica,
merecendo maiores e mais profundas reflexões.
Embora o Estatuto de Roma não admita
a possibilidade de ser ratificado com
reservas, poder-se-ia estudar a elaboração
de uma declaração interpretativa a ser
efetuada por ocasião da ratificação.
Finalmente, as imunidades em
geral e as prerrogativas de foro por
exercício de função são os pontos que
talvez menos polêmica despertem. Crimes
de guerra, contra a humanidade, genocídio,
agressão - constituem delitos quase
sempre praticados à sombra de autoridades
que segundo o ordenamento interno de
seus Países desfrutam de prerrogativa
de foro ou de imunidades.
Poderia um genocida alegar
prerrogativa de foro porque exercia
uma função pública ? Certamente não,
na ótica do Direito Internacional.
Volta
ao sumário
O
Tribunal Penal Internacional e sua Importância
para os Direitos Humanos
Tarciso Dal
Maso Jardim
O TPI foi criado na “Conferência Diplomática de
Plenipotenciários das Nações Unidas sobre o Estabelecimento de um
Tribunal Penal Internacional”, realizada na cidade de Roma, entre os
dias 15 de junho a 17 de julho de 1998. Precisamente, essa criação
ocorreu no último dia da Conferência, mediante a aprovação do
Estatuto do Tribunal (“Rome Statute of the International Criminal
Court”, doravante Estatuto), que possui a natureza jurídica de
tratado e entrará em vigor após sessenta Estados manifestarem o
consentimento em vincularem-se ao TPI (art. 126 do Estatuto), de
acordo com suas normas de competência interna para a celebração de
tratados.
Haveria alguma previsão para o Tribunal começar suas
atividades? Evidentemente, não podemos prever, mas apenas lembrar que
a Convenção de “Montego Bay”, sobre o direito do mar, também
previa o quorum de sessenta Estados e levou doze anos para entrar em
vigor (de 1982 a 1994). Cremos que o Estatuto do Tribunal pode entrar
em vigor em um período bem inferior a doze anos, principalmente pela
atuação das Organizações Não-Governamentais e pelo clamor
internacional diante incessantes atentados à consciência da
humanidade. Atualmente, seis Estados ratificaram o Estatuto e noventa
e quatro já assinaram-no (o que significa que acordaram com o texto
final do mesmo e irão submetê-lo a procedimentos internos que
objetivam o comprometimento do Estado em relação a esse tratado). O
Brasil, no último dia 7 de fevereiro, justamente foi o nonagésimo
quarto Estado a assinar.
Com futura sede em Haia – Holanda (art. 3º do Estatuto), o
Tribunal terá personalidade jurídica internacional, podendo exercer
sua capacidade jurídica para o exercício de suas funções e para a
manutenção de suas finalidades (art. 4º do Estatuto), o que inclui
a possibilidade de celebrar tratados com outras organizações
internacionais ou com Estados.
Desde o fim da Primeira Guerra Mundial pretende-se consagrar a
responsabilidade penal internacional, quando o Tratado de Versalhes
clamou, sem sucesso, pelo julgamento do Kaiser Wilhelm II, por ofensa
à moralidade e à inviolabilidade dos tratados, e o Tratado de
Sèvres, jamais ratificado, previa a responsabilidade do Governo
Otomano pelo massacre dos armênios. As razões para essa pretensão
não eram imparciais ou universais, mas unilaterais, fundadas em um
critério principal: só o vencido pode ser julgado. Esse critério
também seria o instituído, de maneira preliminar, pelo Acordo de
Londres (“London Agreement”)
e pelo “Control Council Law N. 10”
ao estabelecerem o chamado Tribunal de Nuremberg. Com isso,
evidentemente, não se pretende defender que não houvesse o
julgamento de nazistas como Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von
Ribbentrop, Erich Raeder, entre os 24 primeiros a serem julgados (a
partir de 20 de novembro de 1945, sob a égide do “London Agreement”),
ou o julgamento de médicos que produziam experiências em campos de
concentração, entre os outros 185 indivíduos julgados, nos
próximos 12 julgamentos que seguiram (sob a égide do “Control
Council Law N. 10”). Também não se pretende abonar japoneses
julgados pelo segundo Tribunal Militar Internacional instituído após a
Segunda Guerra Mundial. Defende-se, ao
contrário, a inexistência de seletividade na condução de
julgamentos e atitudes internacionais, bem como lembrar que o
princípio da reciprocidade não deve ser aplicado na esfera da
proteção internacional da pessoa humana. Assim, os responsáveis
pelo lançamento de armas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki ou pela
manutenção dos “Gulags” deveriam, também, serem julgados, além
de outros criminosos de ambos os lados.
Um ano antes da última sessão do Tribunal do Japão, a
Assembléia Geral das Nações Unidas solicitou à CDI, mediante a
resolução nº 177 (II), de 21 de novembro de 1947, que formulasse os
princípios de direito internacional reconhecidos pelos instrumentos e
julgamentos do Tribunal de Nuremberg, bem como preparar um “draft”
de Código de ofensas contra a paz e segurança da humanidade. Em 1950
a CDI adotou a formulação desses princípios, submetendo à
Assembléia Geral, e em 1954 submeteu o projeto de Código, sendo esse
último inviabilizado por não haver acordo sobre a definição de
agressão — resolução nº 897 (IX) de 4 de dezembro de 1954. O
consenso sobre a definição de agressão só aconteceria vinte anos
depois, com a resolução da Assembléia nº 3314 (XXIX), de 14 de
dezembro de 1974, mas a viabilidade política da instalação da
responsabilidade penal só seria realidade no final do século XX,
após muitos relatórios e resoluções. Entretanto, importantes
instrumentos internacionais sobre essa temática foram elaborados
nessa segunda metade de século, como, por exemplo, a “Convenção
para a Prevenção e a Sanção do Delito de Genocídio” (1948), as
quatro Convenções de Genebra sobre o direito humanitário (1949) e
seus dois protocolos adicionais (1977), a “Convenção sobre a
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes de Lesa
Humanidade” (1968) e os “Princípios de Cooperação Internacional
para Identificação, Detenção, Extradição e Castigo dos
Culpáveis de Crimes de Guerra ou de Crimes de Lesa Humanidade”
(1973).
Mas, afinal, qual a importância desse longo processo de
formulação de um Tribunal Penal Internacional permanente? Em
resposta à essa indagação, a ONG nova-iorquina “Lawyers Comittee
for Human Rights” apontou seis pontos. Primeiro, acabar com a
impunidade dos grandes violadores dos direitos da pessoa humana, em
termos repressivos e preventivos. Segundo, proporcionar a
reconciliação social e a tranqüilidade e confiança às vítimas,
suas famílias, e à comunidade afetada, mediante a investigação e o
julgamento dos responsáveis pelos crimes internacionais. Terceiro,
sanar possíveis insucessos de Cortes Nacionais, que deixam impunes os
criminosos, principalmente quando esses são autoridades políticas ou
militares, o que se verifica com freqüência em casos de crimes de
guerra ou de desestruturação do sistema legal interno. Quarto,
remediar limitações políticas e jurídicas inerentes aos tribunais
internacionais criminais ad hoc,
como a instalação em alguns casos e não em outros, o viés
político das escolhas do Conselho de Segurança para instaura-los
(além do questionamento de sua autoridade para tanto) e o perigo do
excesso de tribunais instaurados (“tribunal fatigue”), sem
consistência na interpretação e aplicação do direito
internacional, já que são criados para um situação específica e
com um corpo de juizes distinto. Quinto, criar um mecanismo com poder
para condenar pessoas que ofendem gravemente os direitos humanos e o
direito humanitário. E, por fim, o sexto ponto seria tornar o
Tribunal Penal Internacional um modelo de justiça penal e de
julgamento justo, constituindo um patamar institucional (“standard-setting
institution”) para a implementação interna ou internacional das
normas de proteção da pessoa humana.
Os pontos argumentativos levantados pelo “Lawyers Comittee”
são de extrema pertinência, mas a eficácia das argumentações
dependerá de uma série de fatores, como a dificuldade de atingir a
ratificação universal do Estatuto. Creio, independente disto, que a
criação do TPI, mediante a participação equânime dos Estados em
uma conferência internacional e não por ato unilateral do Conselho
de Segurança ou de vencedores de conflitos, é um marco na história
do direito internacional e
da diplomacia. Trata-se, realmente, de uma oportunidade de acabar com
a seletividade na determinação de quem são os criminosos; de
eliminar de forma definitiva o argumento de competência nacional
exclusiva em matéria de proteção internacional da pessoa humana; de
evitar ou sancionar o terrorismo estatal em matéria de direitos
humanos e de direito humanitário, geralmente aliciados por atos de
poder internos, como repressão militar ou leis de anistia; de
constituir no plano internacional, na matéria em tela, um suporte aos
métodos de supervisão e investigação e um aprimoramento dos
sistemas de petição ou comunicação; de representar o complemento
dos sistemas regionais de direitos humanos (como o interamericano); de
frear atitudes desumanas durante conflitos armados; de ser base para o
princípio da legalidade ou simbolicamente representar o rechaço às
grandes violações à dignidade humana.
A jurisdição universal consiste, a princípio, na
possibilidade de a jurisdição interna poder julgar crimes de guerra
ou contra a humanidade cometidos em territórios alheios. Trata-se,
portanto, de extraterritorialidade, que pode ser admitida em razão de
o criminoso (ver art. 7º, II, b, do Código Penal brasileiro) ou as vítimas serem nacionais ou
residentes (ver art. 7º, §3º, do CP), ou o local do crime possuir
regime internacional (pirataria em alto mar, por exemplo, ver art.
7º, II, c, do CP), ou o
crime atingir interesses nucleares do Estado (ver art. 7º, I, a, b e c, do CP) ou, por fim, se os fatos envolverem violações graves ao
direito internacional, atingindo a consciência universal (ver art.
7º, I, d, e II, a, do CP). A jurisdição universal seria a admissão desta última
hipótese, independente se no crime estão envolvidos nacionais ou
interesses internos. No Brasil, o art. 7º, II, a, do CP seria expressão da
jurisdição universal, ao admitir que estão sujeitos à lei
brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes que, por
tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir.
A jurisdição universal tem sido admitida desde o fim da
Segunda Guerra Mundial, quando as cortes dos Aliados passaram a julgar
os crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante o grande
conflito (Austrália, Canadá, Israel, Reino Unido, por exemplo,
julgaram muitas pessoas), sendo atualmente admitida para muitos outras
situações. O caso recente mais célebre é, sem dúvida, o do
general Pinochet, quando se admitiu que a tortura é um crime
internacional e que a Convenção contra a Tortura
conferiu jurisdição universal a seus Estados partes.
Segundo a Anistia Internacional, a prática da jurisdição
universal pelos Estados seria de extrema importância para preencher
vácuos deixados pelo Estatuto do TPI.
Lembre-se que o art. 12 do Estatuto consagrou, como condição prévia
ao exercício da competência do TPI, a necessidade de ser parte do
Estatuto (art. 12, 2, a) o
Estado em cujo território, incluindo navios ou aeronaves por ele
matriculados, teve lugar a conduta ou (art. 12, 2, b) o Estado a que pertença o
acusado do crime. Tais restrições só se aplicariam para as
hipóteses de o Estado comunicar
ao Promotor uma situação que envolveria crimes, de competência do
TPI (art. 13, a do
Estatuto), ou o próprio Promotor instaure um inquérito (art. 13, c do Estatuto). Se for o
Conselho de Segurança que comunicar ao Promotor uma situação,
entretanto, tal ato estará sob a égide do capítulo VII da Carta das
Nações Unidas, o que significa abrangência universal (não esqueça
que tal poder possibilitou a criação dos tribunais ad hoc para Ruanda e
Ex-Iugoslávia). Além disso, um Estado não Parte pode, mediante
declaração, aceitar a jurisdição do TPI para casos específicos
(art. 12, 3, do Estatuto).
De qualquer forma, há um vácuo, pois o Conselho de Segurança
age sob seletividade política. A proposta da República da Coréia,
não aprovada in toto na Conferência de Roma, envolveria também as alternativas,
como condição ao exercício de jurisdição, de a vítima ser
nacional de um Estado Parte ou, ainda, se o suspeito estiver sob
custódia em um Estado Parte. Entretanto, como tais alternativas não
foram aprovadas, defende a Anistia Internacional a jurisdição
universal.
Ademais, o TPI é complementar às jurisdições penais
nacionais (preâmbulo e art. 1º do Estatuto). A jurisdição não
retroativa do TPI está submetida, em
nome da complementaridade, a requisitos de admissibilidade. Esse
mecanismo concede, como é de praxe no direito internacional, a
oportunidade de as cortes internas solucionarem o caso de forma
satisfatória. As autoridades e cortes nacionais terão a
responsabilidade primária de investigar e solucionar o caso.
Entretanto, se o Estado não for capaz ou não esteja disposto a levar
a cabo a investigação ou o processo, ou teve o propósito de não
responsabilizar penalmente o acusado, o TPI poderá exercer sua
jurisdição, desde que o caso seja grave (ver art. 17 c/c 20 do
Estatuto). Na verdade, como veremos, a competência material do TPI
gira somente sobre crimes considerados graves.
Incapacidade ou impossibilidade para investigar ou processar
determinado caso significa, segundo o parágrafo 3º do art. 17, que o
Estado não pode, devido ao colapso total ou substancial de seu
sistema judiciário nacional ou por indisponibilidade deste, fazer
comparecer o acusado, reunir os meios de prova e os depoimentos
necessários ou não está, por outras razões, em condições de
levar a cabo o processo. Já a verificação da vontade de agir ou
não, em determinado caso, depende de o processo ter o propósito de
não responsabilizar penalmente a pessoa em questão por crimes de
competência do TPI (impunidade); ou de demora injustificada no
processo ou de ausência de independência e imparcialidade, em ambos
relevando as circunstâncias fáticas (parágrafo 2º do art. 17).
O
século XX transborda violências contra massas. Como pontuou
Hobsbawn,
“[...] o mundo acostumou-se à expulsão e matança compulsórias em
escala astronômica, fenômenos tão conhecidos que foi preciso
inventar novas palavras para eles: “sem Estado” (“apátrida”)
ou “genocídio”. A Primeira Guerra Mundial levou à matança de um
incontável número de armênios pela Turquia – o número mais
habitual é de 1,5 milhão –, que pode figurar como a primeira
tentativa moderna de eliminar toda uma população. Foi seguida depois
pela mais conhecida matança nazista de cerca de 5 milhões de judeus
[..]”
Independente dos números, que ainda permanecem em discussão,
a destruição étnica apavorou a humanidade. Não é por acaso que o
genocídio foi uma das principais preocupações após a Segunda
Guerra Mundial, sendo tal animus
convertido em instrumento internacional em 9 de dezembro de 1948:
a “Convenção para a Prevenção e a Sanção do Delito de
Genocídio”. Essa Convenção, em seu
Art. 2º, identifica o genocídio em qualquer ato, em tempo de paz ou
de guerra, com a intenção de
destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou
religioso, tal como o assassinato ou dano grave à integridade física
ou mental de membros do grupo; subjugação intencional do grupo a
condições de existência que lhe ocasione a destruição física
total ou parcial; medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio
do grupo e a transferência forçada de crianças do grupo para outro
grupo.
No estudo de especialistas sobre a implementação de
instrumentos como a Convenção Internacional sobre a Eliminação e a
Punição do Crime do Apartheid, incluindo a idéia de estabelecer um
tribunal internacional, divide-se os
instrumentos conexos com essa Convenção de 1973 em duas categorias.
A primeira composta por instrumentos que declaram direitos humanos
específicos sob a égide do direito internacional dos direitos
humanos, como a Declaração Universal dos Direito do Homem, o Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial. A segunda categoria englobaria convenções
que implicariam criminalizar
violações de direitos humanos nos direitos internos, investigar os
violadores ou alternativamente prever a extradição; inclusive
algumas considerando condutas como crime sob o direito internacional.
Nessa última categoria seriam exemplos as Convenções de Genebra
sobre o direito humanitário e a Convenção de 1948 sobre o
genocídio. Entretanto, as semelhanças entre a Convenção sobre o
Apartheid de 73 e a do Genocídio de 48 não se concentram somente no
fato de pertencerem a mesma categoria, segundo os “experts”, mas
também por vaticinarem a criação de um tribunal penal internacional
nos artigos V e VI respectivamente.
Antes da Conferência de Roma, apesar de um grande número de
delegações apoiarem o conceito da Convenção de 1948, houve a
crítica de que essa tipificação era limitada. Primeiro, por não
incluir a proteção de grupos sociais e políticos, ou de grupos
destacados de um grupo, em que não há homogeneidade (por exemplo, as
elites culturais), embora houvesse o reconhecimento da conexão dessa
extensão conceitual com Crimes de Lesa Humanidade. Outra sugestão
seria esclarecer, como elemento de caracterização, a intenção
específica de quem planeja ou decide da intenção genérica ou
conhecimento de quem comete atos de genocídio, pois a dificuldade da
prova sobre esses elementos de intencionalidade concederia argumento a
dirigentes ou a quem obedece ordens. Então foi sugerido, de um lado,
que “a intenção de destruir um grupo, total ou parcialmente”,
fosse considerada como sendo a intenção concreta de destruir além
de um grupo reduzido de pessoas, analisando-se a escala da ofensa ou o
número de vítimas. Ou, de outro lado, que a questão da
intencionalidade fosse trabalhada genericamente para todos os crimes.
Ademais, houve a observação a respeito de estender a idéia da
alínea “e”, sobre a transferência de crianças de um grupo a
outro, também para transferências de pessoas em geral, não
esquecendo de incluir a idéia de membros de um grupo particular.
De qualquer forma, por ser admitida como norma costumeira
(idéia consolidada na Corte Internacional de Justiça)
e incluída em muitas legislações internas, durante as reuniões
preparatórias a Conferência de Roma o crime de genocídio foi
discutido por representações governamentais com base na referida
Convenção. E as principais considerações das delegações acabaram
sendo ligadas a clarificações de termos, como o significado de
destruição “em parte” de um grupo, de lesões mentais e de medidas destinadas a
impedir nascimentos (sugeriu-se os termos “preventing births
within the group”).
Entretanto, apesar dessas discussões, consagrou-se os termos
da Convenção de 1948 no artigo 6º do Estatuto, como uma espécie de
presente pelo cinqüentenário da mesma.
A origem do termo “crimes against humanity”, aqui traduzido
por Crimes de Lesa Humanidade, está ligado, curiosamente, ao caso de
genocídio dos armênios, provocado pelos turcos na Primeira Guerra
Mundial, que Hobsbawn colocou como sendo a primeira tentativa moderna
de eliminar toda uma população. Refiro-me à Declaração para o
Império Otomano, feita pelos governos russo, francês e britânico em
maio de 1915 (Petrogrado), qualificando o massacre como crimes da
Turquia contra a humanidade e a civilização.
Posteriormente, esse conceito de forma gradativa assume o caráter de
norma costumeira, de caráter imperativo (jus cogens), reportando-se a
graves violações da dignidade humana. O Tribunal de Nuremberg
reconheceu esse tipo de violações, confirmado sobre a forma de
princípio pela resolução da Assembléia Geral na resolução 95 (I)
de 11 de dezembro de 1946.
Em relação ao TPI, o §1º, do art. 7º do Estatuto, dispõe
que por Crimes de Lesa Humanidade teríamos os seguintes atos: a.
assassinato; b. extermínio; c. escravidão; d. deportação ou
traslado forçado de populações; e. encarceramento ou outra
privação grave da liberdade física em violação de normas
fundamentais de direito internacional; f. tortura; g. violação,
escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada,
esterilização forçada ou outros abusos sexuais de gravidade
comparada; h. perseguição de um grupo ou coletividade com identidade
própria fundada em motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos,
culturais, religiosos, de gênero ou outros motivos universalmente
reconhecidos como inaceitáveis pelo direito internacional, em
conexão com qualquer ato mencionado no presente parágrafo ou com
qualquer crime de competência do Tribunal; i. desaparecimento
forçado de pessoas; j. “apartheid”; k.
outros atos desumanos de caráter similar que causem intencionalmente
grandes sofrimentos ou atentem gravemente contra a integridade física
ou à saúde mental ou física. Esses atos, para serem considerados
como um Crime de Lesa
Humanidade, devem ser cometidos como parte de um ataque generalizado
ou sistemático contra uma população civil e com o conhecimento de
tal ataque, conforme prescreve o §1º, do art. 7º do Estatuto. Já o
§2º, do mesmo artigo, aclara que por “ataque contra uma
população civil” entende-se uma linha de conduta que implique a
comissão múltipla de atos, mencionados no §1º, contra uma
população civil, sendo tais atos cometidos ou promovidos por
políticas de um Estado ou de uma organização.
Esse
conceito de Crime de Lesa Humanidade, cujos termos já estavam
presentes no pacote de acordos do dia 6 de julho de 1998, passou
também por muitas controvérsias. O Projeto Final de Estatuto
sintetizava tais controvérsias em duas opções, repletas de
colchetes. A primeira opção afirmando que é crime de lesa
humanidade qualquer dos atos (enumerados nas alíneas) que se cometam:
[como parte da comissão generalizada [e] [ou] sistemática de tais
atos contra qualquer população]. E a segunda opção: [como parte de
um ataque generalizado [e] [ou] sistemático contra uma população
[civil] [em escala maciça] [em um conflito armado] [por motivos
políticos, filosóficos, nacionais, étnicos ou religiosos ou por
qualquer outro motivo arbitrariamente definido]. Os pontos
específicos, que estavam sendo discutidos sobre o conceito de crime
de lesa humanidade, poderiam ser traduzidos nas seguintes
indagações: Conceituar ou não o que se entende por “generalizado”
e “sistemático”? Essa categoria de crimes seria aplicada para
situações de paz e de guerra? Incluir ou não motivações para
conceituar essa categoria de crimes?
O conceito final, consagrado no Art. 7 do Estatuto, é, em
parte, produto dessas controvérsias. O conceito de “ataque contra
uma população civil”, exposto na alínea “a”, do §2º do Art.
7, é a síntese dos conceitos de generalizado (“widespread”) e
sistemático (“sistematic”) trabalhados nas reuniões
preparatórias (ver, por exemplo, o Relatório do Comitê
Preparatório, volume II, compilação de propostas).
Por “generalizado” entendia-se o ataque maciço em natureza e
dirigido contra um grande número de pessoas. Por “sistemático”
entendia-se o ataque constituído, ao menos em parte, por atos
cometidos ou promovidos por uma política ou um plano, ou por uma
prática repetida por um período de tempo. Ora, o conceito de
generalizado está assegurado na chamada “comissão múltipla de
atos” e, por sua vez, o conceito de sistemático está consagrado no
que se chamou de “linha de conduta” ou de “atos cometidos ou
promovidos por políticas de um Estado ou de uma organização”.
Então, embora o conceito do §1º, do Art. 7 do Estatuto, enquadra o
crime de lesa humanidade a partir de atos cometidos como parte de um
ataque “generalizado” ou “sistemático”, na realidade deve ser
entendido como parte de um ataque “generalizado” e “sistemático”,
pois é o que se infere da alínea “a”, do §2º do Art. 7 do
Estatuto.
Outra questão seria se tal crime ocorre em época de paz ou
também em de guerra. Creio que a possibilidade de se cometer esse
tipo de crime reporta-se a qualquer situação, desde que as vítimas
sejam civis, e não militares. Para estes últimos, tem-se a
proteção em relação aos crimes
de guerra (Art. 8 do Estatuto). Embora o direito internacional não
proteja somente militares fora de combate, seu plano de proteção
possui lógica e níveis diferentes da proteção dos direitos
humanos, no Estatuto representada especialmente pelo Crimes de Lesa
Humanidade. Vejam que o Tribunal Penal Internacional significa um
ponto de união entre os direitos humanos e o direito humanitário,
fato que também se comprova pela inclusão, na competência desse
Tribunal, dos crimes de guerra ocorridos em conflitos internos, e não
somente em conflitos internacionais.
A última questão, diz respeito a motivações específicas
(políticas, filosóficas, de nacionalidade, étnicas ou religiosas ou
por qualquer outra arbitrariamente definida) que, felizmente, não
foram incluídas no Estatuto. Entretanto, tem-se no Art. 7 do Estatuto
os indesejáveis termos “com o conhecimento do ataque”, no caso,
generalizado ou sistemático contra uma população civil. Seria o
conhecimento do plano ou da política estatal ou de uma organização?
Seria o conhecimento de todos os crimes envolvidos na noção de “generalizado”?
Do nosso ponto de vista, esse conteúdo do crime de lesa humanidade
deve ser deslocado para a análise dos elementos subjetivos do crime.
O Art. 30 do Estatuto, que versa sobre tais elementos de
intencionalidade, determina que os elementos materiais do crime devem
ser cometidos com intenção e conhecimento, sendo esse último
definido como a consciência de que as circunstâncias existem ou que
a conseqüência ocorrerá no curso ordinário dos fatos.
Os
crimes de guerra são, sem dúvida, preocupações milenares que
confluem, hoje, no estabelecimento de um TPI. Timothy McCormack, por
exemplo, demonstra que desde o século VI a.C., com o guerreiro
chinês Sun Tzu, há preocupações com o comportamento dos
beligerantes no conflito. O Código de Manu (direito hindu feito cerca
de 200 a. C.), por exemplo, é emblemático ao fixar armas proibidas
(como flechas envenenadas) ou pessoas que não deveriam ser mortas
(como espectadores).
O Estatuto, em seu artigo 8, consagra esta longa evolução do
direito internacional humanitário que, desde o século passado, vem
sendo impulsionado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Os crimes aqui mencionados
são, primeiro, as chamadas “infrações graves” consagradas nas
quatro Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949; segundo,
outras violações graves a leis e costumes pertinentes a conflitos
armados internacionais e, terceiro, violações graves em conflitos de
caráter não internacional.
Para o primeiro grupo, as infrações graves
seriam: i. homicídio
doloso; ii. tortura ou
tratamento desumano, inclusive as experiências biológicas; iii. provocar grandes sofrimentos ou atentar gravemente contra a
integridade física ou a saúde; iv.
a destruição e a apropriação de bens, não justificadas por
necessidades militares e executadas de maneira ilícita e arbitrária;
v. compelir um prisioneiro de guerra ou outro indivíduo protegido a
servir em forças inimigas; vi.
privar um prisioneiro de guerra ou outro indivíduo dos direitos de um imparcial e
regular julgamento; vii. submeter à deportação, transferência ou confinamento
ilegais e; viii. tomar
reféns.
Para o segundo, as violações seriam: i. dirigir ataques contra a
população civil enquanto tal ou civis que não participem
diretamente das hostilidades; ii.
dirigir ataques contra bens civis; iii. dirigir ataques contra
pessoal, instalações, material, unidades ou veículos participantes
de uma missão de manutenção da paz ou de assistência humanitária,
em conformidade com a Carta das Nações Unidas; iv. lançar ataque sabendo que causará perdas de vidas, lesões em
civis ou danos a bens de caráter civil ou danos extensos, duradouros
e graves ao meio ambiente que sejam excessivos em relação à
vantagem militar geral, concreta e direta prevista; v. atacar ou bombardear, por
qualquer meio, cidades, aldeias, povoados ou prédios que não estejam
defendidos e que não sejam objetivos militares; vi. causar a morte ou lesões a um inimigo que tenha deposto as
armas ou não tenha meios de defesa; vii. utilizar de modo indevido
a bandeira branca, a bandeira ou as insígnias militares ou o uniforme
do inimigo ou das Nações Unidas, bem como os emblemas previstos nas
Convenções de Genebra, e causar assim a morte ou lesões graves; viii. transferência pela
Potência ocupante de parte de sua população para o território que
ela ocupa, ou a deportação ou transferência de toda ou parte da
população do território ocupado; ix. fazer ataque a prédios
destinados ao culto religioso, às artes, às artes, às ciências ou
à beneficência, monumentos históricos, hospitais e lugares onde se
agrupam doentes e feridos, sempre que não sejam objetivos militares; x. submeter indivíduos da
parte adversária a mutilações físicas ou experiências médicas ou
científicas de qualquer tipo, que não estejam associadas a
tratamento médico, dental ou hospitalar, nem levadas a cabo em seu
interesse e que causem mortes ou ponham em risco a saúde de tais
indivíduos; xi. matar ou
ferir de modo traiçoeiro os inimigos; xii. declarar que não dará quartel; xiii. destruir ou confiscar bens do inimigo, a menos que as
necessidades da guerra o tornem imperativo; xiv. declarar como abolidos,
suspensos ou inadmissíveis em um tribunal os direitos e ações dos
nacionais da parte inimiga; xv.
obrigar nacionais da parte inimiga a participar de operações
bélicas dirigidas contra o seu próprio país; xvi. saquear uma cidade ou uma
localidade, inclusive quando tomada de assalto; xvii. utilizar veneno ou armas
envenenadas; xviii. utilizar
gazes asfixiantes, tóxicos ou similares ou qualquer líquido,
material ou dispositivo análogo; xix. utilizar balas que se
abram ou amassem facilmente no corpo humano, como balas de camisa dura
que não cubra totalmente a parte interior ou que tenha incisões; xx. empregar armas, projéteis, materiais e métodos de guerra
(proibidos por emenda – arts. 121 e 123 do Estatuto) que, por sua
própria natureza, causem danos supérfluos ou sofrimentos
desnecessários ou produzam efeitos indiscriminados em violação ao
direito internacional dos conflitos armados; xxi. cometer ultrajes contra a
dignidade de indivíduos, em particular tratamentos humilhantes e
degradantes; xxii. cometer
estupro, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez
forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de
violência sexual que constitua uma violação grave das Convenções
de Genebra; xxiii. utilizar
a presença de civis e outras pessoas protegidas para que fiquem
imunes às operações militares determinados pontos, zonas ou forças militares; xxiv. dirigir intencionalmente
ataques contra prédios, materiais, unidades e veículos médicos e
contra pessoal que esteja utilizando emblemas previstos nas
Convenções de Genebra, de acordo com o direito internacional; xxv. provocar intencionalmente a inanição da população civil
como método de fazer a guerra, privando-a dos bens indispensáveis
para a sua sobrevivência, inclusive por meio da obstrução
intencional da chegada de suprimentos de socorro, de acordo com as
Convenções de Genebra; xxvi. recrutar ou alistar
crianças menores de 15 anos nas forças armadas nacionais ou
utilizá-las para participar ativamente das hostilidades.
O
terceiro grupo de crimes, ao lado da inclusão dos crimes sexuais,
constituiu em grande vitória da sociedade civil internacional em
matéria de crimes de guerra, pois inclui as violações em conflitos
armados não internacionais, que atualmente englobam a maioria dos
conflitos. O perfil de vários conflitos contemporâneos, como o da
Ex-Iugoslávia e de Ruanda, são internos e revelam toda sorte de
sérias violações ao direito humanitário, além de apresentar uma
administração de justiça totalmente ineficaz e indisponível.
Lembre que, de um lado, não se deve confundir este tipo de conflito
com situações de distúrbios ou tensões internas, tais como motins,
atos isolados e esporádicos de violência ou outros atos de caráter
similar (art. 8, 2, d e f) e, de outro lado,
menciona o parágrafo 3º do art. 8 que a previsão deste tipo de
crime não “afetará a responsabilidade que incumbe a todo governo
de manter e restabelecer a lei e a ordem pública no Estado e de
defender a unidade e integridade do Estado por qualquer meio legítimo”.
Feitas estas observações, diga-se que esta categoria engloba
o disposto no art. 3º comum às quatro Convenções de Genebra e
outras violações graves consagradas por normas ou costumes
internacionais. Com base no art. 3º das Convenções, que é um
verdadeiro elo de ligação entre o direito humanitário e os direitos
humanos, temos: i. atos de
violência contra a vida e a integridade corporal, em particular o
homicídio em todas as suas formas, as mutilações, os tratamentos
cruéis e a tortura; ii. os ultrajes contra a dignidade pessoal, em
particular os tratamentos humilhantes e degradantes; iii. a tomada de
reféns; iv. as sentenças condenatórias pronunciadas e as
execuções efetuadas sem julgamento prévio por tribunal constituído
regularmente, que ofereça todas as garantias judiciais geralmente
reconhecidas como indispensáveis.
As demais violações graves reconhecidas pelo Estatuto para
conflitos não internacionais são: i. dirigir intencionalmente
ataques contra a população civil enquanto tal ou contra civis que
não participem diretamente das hostilidades; ii. dirigir intencionalmente ataques contra prédios, material,
unidades e veículos sanitários, e contra pessoal habilitado para
utilizar emblemas previsto nas Convenções de Genebra, de acordo com
o direito internacional; iii.
dirigir intencionalmente ataques contra pessoal, instalações,
material, unidades ou veículos participantes em uma missão de
manutenção da paz ou da assistência humanitária em conformidade
com a Carta das Nações Unidas, sempre que tenham o direito à
proteção outorgada a civis ou bens civis, de acordo com o direito
internacional dos conflitos armados; iv. dirigir intencionalmente
ataques contra prédios dedicados ao culto religioso, às artes, às
ciências ou à beneficência, monumentos históricos, hospitais e
lugares onde se agrupam doentes e feridos, sempre que não sejam
objetivos militares; v.
saquear uma cidade ou praça, inclusive quando tomada por assalto; vi. cometer atos de estupro,
escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada e
qualquer outra forma de violência sexual que constitua uma violação
grave dos Convênios de Genebra; vii.
recrutar ou alistar menores de 15 anos nas forças armadas ou
utilizá-los para participar ativamente das hostilidades; viii. ordenar a transferência
da população civil por razões relacionadas com o conflito, a menos
de que assim o exija a segurança dos civis de que se trate ou por
razões militares imperativas; ix.
matar ou ferir a traição um combatente inimigo; x. declarar que não se dará quartel; xi. submeter pessoas que estejam em poder de outra parte no conflito
a mutilações físicas ou a experiências médicas ou científicas de
qualquer tipo que não sejam justificadas em razão de um tratamento
médico, dental ou hospitalar da pessoa de que se trate, nem sejam
levadas a cabo em seu interesse, e que causem a morte ou ponham
gravemente em perigo a sua saúde; xii. destruir ou confiscar bens
do inimigo, a menos que as necessidades da guerra o tornem imperativo.
Este rol
de crimes são em si mesmos suficientes para justificar este Tribunal,
principalmente porque é de conhecimento de todos que essa
tipificação provém de inúmeras situações reais.
O crime de agressão sempre causou polêmica na doutrina e
prática internacionais. Primeiro,
a discussão girava em torno da licitude da guerra como meio de
solução de controvérsias internacionais. A concepção de "guerra
justa" de Santo Agostinho, em que seria melhor os justos
subjugarem os malfeitores do que o contrário, influenciou muito o
pensamento ocidental, ao ponto de os humanistas "cívicos"
(como Patrizi e Maquiavel) defenderem a guerra como uma opção
política a ser protagonizada pelos cidadãos, enquanto dever cívico. Essa ragione di stato seria,
entretanto, contestada pelos humanistas do norte, como Erasmo, para
quem toda a guerra é fraticida.
Segundo, no plano internacional, em tom de inspiração
kantiana, a guerra fora considerada universalmente como um meio
ilícito de solução de controvérsia pelo Art. 2º, §4º, da Carta
das Nações Unidas, embora temos que recordar o precedente do
"Pacto de Briand-Kellog" (1928), de menor alcance.
A discussão da abrangência da abstenção de recorrer à
ameaça e ao uso da força, estabelecida pelo referido artigo, rendeu
várias correntes doutrinárias, como a do direito de ingerência por
razões humanitárias. A confusão se dá porque essa abstenção deve ser, segundo
o Art. 2º, §4º, contra a integridade territorial ou a
independência política de um Estado ou outro modo incompatível com
os objetivos das Nações Unidas. Discute-se, então, exceções à
regra, embora entendemos que o Art. 2º, §3º, resolve a questão ao
determinar que as controvérsias devem ser resolvidas por meios
pacíficos, não ameaçando a paz, a segurança e a justiça. Dessa forma, não haveria
possibilidade de uso unilateral da força por um Estado, resguardando
a legítima defesa e o direito de autodeterminação dos povos, assim
como as faculdades do Conselho de Segurança sob a égide do cap. VII da Carta.
Dentro desse contexto, houve duas propostas de definição de
agressão enquanto crime sob jurisdição do futuro TPI. Uma das alternativas define
agressão como os atos cometidos por um indivíduo que, como líder ou
organizador, é envolvido no uso de força armada por um Estado contra
a integridade territorial ou independência política de outro Estado
ou em outro modo incompatível com a Carta das Nações Unidas. A segunda alternativa define o crime de agressão como o
cometido por uma pessoa que está em posição de controle ou é capaz
de dirigir ações políticas ou militares em seu Estado, contra outro
Estado, em infração à Carta das Nações Unidas, recorrendo à
força armada e ameaçando ou violando a soberania estatal,
integridade territorial ou independência política. Sobre essa última
definição, houve a proposta de acréscimo de infração ao direito
internacional costumeiro. Ademais,
discute-se o rol de atos que, a princípio, caracterizaria a
agressão. Entre outros,
estão as invasões, ataques, ocupações, bloqueios, permitir acesso
para agressão a um terceiro Estado ou enviar bandos, grupos,
mercenários.
A diferença básica entre os dois conceitos de agressão
concentra-se na vinculação estrita aos termos do Art. 2º, §4º, da
Carta (primeira alternativa) ou o acréscimo da violação à “soberania
estatal” a esses termos, que se funda na definição de agressão
dada pela Resolução nº 3314 (XXIX) de 14 de dezembro de 1974. Se, de um lado, cremos ser
insuficiente esse conceito quando as relações internacionais são
pautadas por coerções econômicas; de outro lado, várias
delegações governamentais sugestionaram não incluir o crime de
agressão, por vários motivos.
Destacamos o argumento de imprecisão da responsabilidade
individual criminal nessa seara. E, também, o argumento de possíveis
confusões entre as funções do futuro TPI e as do Conselho de
Segurança.
Por esses fatores foi grande a polêmica sobre a definição do
crime de agressão. Assim, o art. 5º, §1º, alínea “d”, do
Estatuto, prevê o crime de agressão, mas o §2º do mesmo artigo
remete a definição desse crime para futura emenda (segundo o art.
121 do Estatuto) ou revisão (prevista pelo art. 123 do Estatuto),
pois durante a Conferência de Roma não houve consenso sobre a
tipificação desse crime, apenas consolidando de que o tipo não deve
ser contrário com o disposto na Carta das Nações Unidas.
A controvérsia sobre este tipo de crime permanece na Comissão
Preparatória para o TPI (PrepCom), que está discutindo os elementos
dos crimes e as regras de procedimento e prova. Nas duas primeiras,
realizadas nos dias 16 a 26 de fevereiro e 26 de julho a 13 de agosto
de 1999, tem-se três propostas sobre o crime de agressão: a dos
países árabes, a da Alemanha e a da Rússia. A proposta mais
abrangente foi a elaborada pelos países árabes (Bahrain, Iraque,
Líbano, Líbia, Omã, Sudão, Síria e Yemen), para os quais a
agressão envolve da privação da autodeterminação, liberdade e
independência à ameaça e uso de força armada para violar a
soberania, integridade territorial, independência política ou
direitos inalienáveis de outro povo. Este grupo de países elegem,
ainda, uma série de situações específicas de agressão, como
bloqueios e uso de mercenários e grupos irregulares.
No outro extremo está a proposta da Federação Russa que, de um
lado, condiciona esse crime à prévia determinação de um ato de
agressão pelo Conselho de Segurança e, de outro lado, limita o
objeto à concepção, preparação, início e execução de uma
guerra de agressão. Por fim, a Alemanha
propõe um meio termo, ao condicionar o crime de agressão a ataques
armados contra integridade territorial ou independência política de
outro Estado, segundo a Carta das Nações Unidas, ao mesmo tempo que
admite ingerência do Conselho de Segurança na determinação destes
atos. Como vemos, há muito o
que discutir sobre este tema.
Antes de tratar desse assunto, importa reconhecer que o
Ministério das Relações Exteriores estabeleceu constante diálogo
com a sociedade civil desde momentos preparatórios à Conferência.
Refiro-me em especial às respostas deferidas às demandas da IIIª
Conferência Nacional de Direitos Humanos, que teve nesse particular o
Movimento Nacional de Direitos Humanos e o Centro de Proteção
Internacional de Direitos Humanos como representantes. Nesses contatos
preliminares boa parte das reivindicações da sociedade civil eram
contempladas pelo MRE, embora alguns temas polêmicos ainda estavam
indefinidos, como o papel do Conselho de Segurança das Nações
Unidas. Essa boa relação persistiu na Conferência, tendo a
delegação brasileira comparecido na “Sudan Room”
logo no início da Conferência, a fim de dialogar com as ONGs.
O Brasil, no início da Conferência, defendia a possibilidade
de o promotor iniciar o processo proprio
motu, tendo independência em relação aos demais “triggering
parties” (Estados e Conselho de Segurança), o que era extremamente
satisfatório. Tinha posição flexível em relação ao papel do
Conselho de Segurança - CS, no sentido de admitir que pudesse esse
órgão iniciar um processo, mas era contrário à possibilidade de o
CS criar novos tribunais ad hoc
e, tampouco, considerar o TPI como um órgão subsidiário daquele ou
serem as investigações ou processos suspensos pelo CS, exceto em
circunstâncias excepcionais, quando o CS agiria formalmente sob a
égide do capítulo VII da Carta das Nações Unidas, por um período
limitado de tempo, o que era razoável na avaliação das ONGs.
Entretanto, o Brasil era favorável à jurisdição inerente do TPI
somente para o crime do genocídio, sendo favorável ao chamado
mecanismo “opt-in” para os demais crimes, a fim de favorecer a
ratificação universal do Estatuto. Isso significava que, ao
ratificar o Estatuto, o Estado só aceitaria a competência do
Tribunal para crimes de genocídio, podendo, para os demais crimes
(crimes de guerra, crimes de lesa humanidade e crimes de agressão),
não reconhecer essa competência ou submeter caso a caso.
Essa posição brasileira foi revertida publicamente em
plenário no início de julho de 1998, no sentido de aceitar a
competência automática do Tribunal para todos os crimes, o que muito
agradou às ONGs. Posteriormente, outras duas questões permaneceram
pendentes em relação ao Brasil: a extradição e a prisão
perpétua.
Uma das
questões centrais discutidas em Roma, ligadas à efetividade da
execução penal, foi a criação de um instituto jurídico para
apresentar a pessoa acusada diante o TPI, chamado de “surrender”.
Esse instrumento é similar à extradição, porém distinto, embora
existiam propostas de denominar esse instituto justamente de
extradição.
No art. 28 do Draft para o estabelecimento de um tribunal penal
internacional para o Apartheid e outros crimes internacionais, criado
no já mencionado estudo de especialistas sobre a Convenção do
Apartheid de 1973 e instrumentos conexos,
o conceito de “surrender” era
realmente equivalente ao de extradição. No §2º desse artigo 28,
entretanto, taxativamente determina-se que não seriam obstáculos
para a entrega (a) alegações de que se trata da exceção de crime
político , (b) que o indivíduo é
nacional do Estado requerido e (c) por outras condições ou
restrições impostas pelos Estados requeridos na prática de
extradição em relação a outros Estados. Assim, teríamos uma
situação curiosa, pois o aspecto que nos leva a considerar que a
extradição e a entrega seriam equivalentes é justamente o elemento
que neutraliza os efeitos nocivos dessa equivalência e marca um
princípio de diferença entre os institutos. Ou, em outros termos,
quando a entrega prevê os aspectos práticos da extradição,
evitando empecilhos para o julgamento no então hipotético TPI (como
o crime político, a proibição de extradição de nacionais e os
direitos internos), iguala os institutos mas também estabelece um
patamar de diferenciação para a jurisdição internacional, não
permitindo escusas internas fundadas em política de extradição.
Assim, necessitou-se firmar a posição de não admitir a
confusão entre a extradição e “surrender”, o que foi claramente
diferenciado no Estatuto final. A delegação brasileira, entretanto,
tendo em vista a Constituição Federal de 1988, que veta a
extradição de brasileiros natos e de brasileiros naturalizados antes
do fato criminoso (nesse último caso com a exceção dos crimes de
tráfico de entorpecentes), defendeu que não havia possibilidade de o
Brasil “extraditar” os nacionais dessas categorias para o futuro
Tribunal, caso fosse necessário. E, apesar de votar a favor do
Estatuto no plenário final da Conferência, fez declaração de voto
no sentido das dificuldades constitucionais nessa matéria.
Essa posição foi contestada pelo presente autor, em artigo
distribuído na Conferência, intitulado “The International Criminal
Court: Brazil and the Question of Extradition”, pelos seguintes
motivos:
a.
não se trata do antigo instituto da extradição, que se
reporta a entrega de uma pessoa, submetida à sentença penal
(provisória ou definitiva), de uma jurisdição soberana a outra.
Trata-se de entrega sui generis,
em que um Estado transfere determinada pessoa a uma jurisdição penal
internacional que ajudou a construir. A Constituição brasileira
certamente não se refere a esse caso especial, por impossibilidade de
lógica e de vaticínio;
b.
o parágrafo 2º, do art. 5º, da CF/88, afirma de forma
categórica que os direitos e garantias previstos na Constituição
brasileira não excluem outros decorrentes do sistema ou do regime por
ela adotados ou, ainda, provindo dos tratados em que o Brasil seja
parte. O Tribunal Penal Internacional está sendo formado mediante um
tratado, o que significa dar-lhe recepção constitucional. Sabemos,
é verdade, que o Supremo Tribunal Federal nega arbitrariamente esse
dispositivo constitucional, determinando que os tratados de direitos
humanos ou humanitário não se diferenciam dos demais tratados e,
portanto, possuem o mesmo status
de lei federal, o que significa dizer que uma lei posterior dessa
natureza pode derrogar tratados ratificados anteriormente pelo Brasil.
Entretanto, optamos pelo concebido na Constituição, e não no
imposto por interpretação;
c.
as disposições transitórias da CF/88 propugnam a criação
de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, enquanto
princípios constitucionais direcionam as relações internacionais
brasileiras mediante a prevalência dos direitos humanos. Embora o
Tribunal Penal não seja exclusivamente um tribunal de direitos
humanos, possui aspectos
intrínsecos aos mesmos e, o que é importante, vai de encontro com o
projeto constitucional brasileiro.
Denunciamos, então, a contraditória e cômoda posição
brasileira, evitando que criminosos brasileiros fossem apresentados ao
Tribunal e ao mesmo tempo impedindo que o Brasil se transformasse em
um reduto de criminosos estrangeiros.
Assim, o art. 102 do Estatuto diferencia os termos “surrender”
de “extradition”, sendo o primeiro a condução de uma pessoa de
um Estado ao Tribunal, de acordo com o Estatuto, e o segundo a
condução de uma pessoa de um Estado a outro, de acordo com tratados,
convenções ou legislação nacional. Ressalta-se que a execução
penal, mediante acordo entre os Estados e o TPI, poderá ser no Estado
que entrega. Ora, é inconcebível este tipo de situação na
extradição.
O Tribunal Penal Internacional é um produto do esforço
conjunto e democrático dos Estados, das Organizações Internacionais
e das ONGs. Portanto, é único, não possui paralelo histórico,
significando a primeira jurisdição internacional permanente de
caráter penal, que de forma não seletiva e desvinculada de uma
guerra específica procura por fim a era de atrocidades que
presenciamos. Como o próprio preâmbulo do Estatuto menciona: “atrocidades
que desafiam a imaginação e comovem profundamente a consciência da
humanidade”.
A nossa Constituição Federal é perfeitamente adequada ao
Estatuto do TPI, em especial pela abertura do §2º, do Art. 5º, mas
sobretudo pela principiologia que a rege e orienta toda a sua
estrutura segundo a dignidade humana, paz, direitos humanos e direitos
fundamentais. O TPI é uma necessidade, e não sobreposição. É a
respiração de uma Constituição como a nossa, pois o TPI só
atuará se ela for ultrajada. Aliás, pode significar a respiração
das pessoas que aqui vivem e sobrevivem, e não das autoridades e
poderosos que aqui são facínoras.
A proposta de emenda constitucional que ora apresentamos é a
expressão desse espírito, afirmando a construção garantista e
humana do nosso sistema jurídico, ao resguardá-lo com as
possibilidades do
TPI. A PEC em questão tem o seguinte teor:
“Art. 5º [...] §3º - A República Federativa do Brasil
poderá reconhecer a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nas
condições previstas no Estatuto aprovado em Roma no dia 17 de julho
de 1998.”
Sobre o outro problema constitucional (prisão perpétua),
diga-se que segundo o art. 77 do Estatuto, uma pessoa condenada, por
algum crime de competência do Tribunal, poderá ser reclusa por um
período não superior a 30 anos (o mesmo limite será imposto em caso
de cometimento de mais de um crime). Todavia, em casos de extrema
gravidade do crime e relevando as características pessoais do
condenado, a reclusão poderá ser de perpetuidade. A prisão
perpétua é a exceção da exceção, pois a competência do TPI
sempre diz respeito a crimes graves (é uma condição de
admissibilidade) e a extrema gravidade deve ser entendida como
situação limite.
Um exemplo recente dessa situação limite foi a decisão
histórica do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, proferida no
dia 4 de setembro de 1998. Pela primeira vez um tribunal penal
internacional aplicou a Convenção sobre o Genocídio de 1948, ao
condenar Jean Kambanda à prisão perpétua. Réu confesso, Kambanda
foi ministro do governo provisório de Ruanda em 1994, quando cerca de
um milhão de pessoas foram assassinadas. O Tribunal Ad Hoc de Ruanda determinou a pena máxima em razão da natureza
dos crimes e do cargo ocupado por Kambanda.
Além de prevista para situações limites, a prisão perpétua
disposta no Estatuto não é perpétua em todos os seus termos, já
que o §3º, do art. 110, prevê a revisão da pena após 25 anos de
cumprimento, a fim de saber se essa pode ser reduzida. Neste caso, o recluso poderá
ter sua pena reduzida se uma ou mais condições estiverem presentes
(§4º, do art. 110): a) O recluso manifestou, desde o princípio e de
forma continuada, vontade de cooperar com o Tribunal em suas
investigações e processo; b) O recluso facilitou, de forma
voluntária, a execução das decisões e ordens do Tribunal em outros
casos, em particular auxiliando na localização de bens sobre os
quais incidam multas, seqüestro ou reparação que possam ser
utilizados em benefício das vítimas; ou c) Outros fatores previstos
nas Regras de Procedimento e Prova que permitam determinar uma
mudança nas circunstâncias suficientemente clara e importante para
justificar a redução da pena. E se durante tal revisão o TPI não alterar a pena, há
possibilidade de voltar a examinar a questão posteriormente (§5 do
mesmo art. 110).
Apesar de a prisão perpétua ser prevista nestas condições
e, para muitos crimes previstos na competência do Tribunal, o Brasil
prever pena de morte por fuzilamento (ver Código Penal Militar, Livro
II, Dos Crimes Militares em Tempo de Guerra, arts. 355-408), devemos
lutar, após nossa ratificação, para que se emende ou revise o
Estatuto (arts. 121 e 123, respectivamente), no sentido de abolir este
tipo de pena, que reputo desumana em si mesma.
Importa considerar que a diplomacia brasileira e boa parte da
intelectualidade deste país demonstrou claro ânimo, consentimento e
desejo, em relação à ratificação do TPI pelo Brasil, no
seminário oficial do Ministério das Relações Exteriores sobre o
assunto, organizado em conjunto com o Conselho da Justiça Federal.
E por este fato a sociedade civil brasileira agradece, principalmente
porque esse processo de discussão, que incluiu outros seminários e
também audiências públicas na Câmara dos Deputados, culminou na
inicialmente mencionada assinatura do Estatuto pelo Brasil. Esperamos,
agora, que as convicções do Executivo, após acalorado e profundo
debate, inspirem a pronta aprovação deste Estatuto pelo Congresso
Nacional.
Por fim, acredito que a construção do TPI é um dos mais
belos projetos construídos pela humanidade, no sentido que o poeta
pode nos dar:
“Belo porque é uma porta
abrindo-se em mais saídas.
Belo como a última onda
que o fim do mar sempre adia”
João Cabral de Melo Neto
-
-
O TRIBUNAL PENAL
INTERNACIONAL,
A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA E A
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
Sylvia Helena Helena F. Steiner
Em tema tão
controvertido, como o que se refere à previsão, pelo Estatuto do
Tribunal Penal Internacional, da pena de prisão perpétua, vejo como
necessário, primeiramente, tecer
algumas considerações sobre as discussões havidas durante a
elaboração de suas regras. E, antes de qualquer considerção, acho
necessário deixar claro
que num artigo, dada a própria exiguidade de espaço de que dispomos
para expor nossas idéias, não pode haver a pretensão de se esgotar
a matéria, e nem sequer, diga-se, de aprofundar de tal modo as
reflexões que estas traduzam toda nossa análise sobre o tema. Assim,
estas notas devem ser interpretadas como, realmente, notas que são.
A primeira observação que desejo fazer é sobre o fato de
que, desde o início das discussões acerca da criação de um
Tribunal Penal Internacional permanente,
a Comissão de Direito Internacional da ONU, e depois o Comitê
Preparatório criado pela Assembléia Geral, preocuparam-se em não
privilegiar nenhum dos principais sistemas judiciais existentes,
aqueles com raízes no common
law e aqueles com raízes na
civil law. Em outras palavras, nos principais sistemas jurídicos
vigentes, os primeiros congregando parte dos países de tradição
anglo-saxônica, e, o segundo, os países com raízes no direito
romano, como o nosso. Não se buscava, em verdade, criar um sistema
híbrido, mas sim um sistema de regras original, novo, específico
para regular a estrutura de uma Corte internacional com perfil
desvinculado de quaisquer Estados.
A proposta, no entanto, no meu entender, não vingou de todo,
pois verifica-se na verdade que houve uma tentativa de conciliação
entre institutos próprios do sistema do common law e outros próprios do sistema da civil law. Esse casamento
forçado, em diversos dispositivos do Estatuto, demonstrou não ter
dado certo, como aliás não daria qualquer casamento forçado.
No que diz especificamente com a previsão das penas a serem
impostas, a discussão surgida após a apresentação do projeto
elaborado pela Comissão de Direito Internacional foi justamente sobre
a ausência de previsão da pena capital.
Em verdade, como bem resumido por Norberto Bobbio,
duas são as grandes correntes que antepõem suas concepções sobre a
justificativa da pena de morte: uma, a que se assenta numa concepção
chamada ética, para a qual a pena de morte é decorrência da regra
de justiça. Tem caráter retributivo. A pena é justa. Outra, a
concepção chamada utilitarista, para a qual a pena de morte só se
justifica se provar-se que é útil, quer para fins de prevenção
geral, quer para fins de prevenção especial, quer para a defesa
social.
Tenho que, dentro dessa perspectiva jusfilosófica, os países
com tradição assentada no common
law são os que mais frequentemente compartilham a idéia de que a
pena de morte é justa. Não importa se é útil, ou se é
necessária. É apenas justa. É a medida da justa retribuição.
Não vejo outro motivo para a discussão que se abriu, no seio
da Comissão Ad Hoc e depois do Comitê
Preparatório, à vista do projeto elaborado pela Comissão de Direito
Internacional da ONU, o qual não previa a pena de morte. Muitas das
delegações sustentavam, e isso prosseguiu inclusive nas discussões
havidas durante a Conferência de Roma, que sem a possibilidade de se
aplicar a pena de morte os objetivos e a credibilidade da Corte seriam
abalados. Seu ponto de apoio era a sustentação do fato de que a
gravidade dos crimes a serem julgados pela Corte seria reforçada com
a previsão da pena de morte. Insistiam essas delegações em que não
havia nenhuma proibição, sequer recomendação contra a pena de
morte, derivada dos costumes de direito internacional. A pena de morte
seria, na perspectiva dessas delegações, a pena justa.
A nosso ver, no
entanto, a oposição derivava
muito mais do fato de entenderem, essas delegações, que a não
previsão da pena de morte poderia ser interpretada como um
progressivo desenvolvimento do costume internacional no sentido da
proscrição dessa pena.
De outro lado, os delegados de países com sistemas mais
assentados na civil law, e que portanto têm uma visão diferente das finalidades da
pena - muito mais num sentido utilitário do que retributivo -
invocaram o fato de que, quer países
signatários do Protocolo Adicional ao Pacto de Direitos Civis
e Políticos, quer os países americanos signatários da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, e os europeus signatários da
Convenção Européia, tinham
um compromisso internacional no sentido da abolição da pena de
morte, ou ao menos de sua não extensão a outros delitos. A prevalecer a previsão de
tal pena no Estatuto, não poderiam eles ser signatários da
Convenção de Roma, nem tampouco colaborar com a obrigação da
entrega de pessoas à Corte se esta pudesse condená-los à pena de
morte.
Como também se discutia a inclusão da pena de prisão
perpétua, esta sim prevista no projeto da Comissão de Direito
Internacional, algumas
delegações entenderam que a manutenção deste tipo de pena seria
necessária, no sentido de mostrar, às delegações que insistiam na
inclusão da pena morte, alguma flexibilidade, para alcançar-se um
acordo. Ressalte-se que discussões sobre a pena de prisão perpétua
têm sido tema frequente, mesmo porque há considerável doutrina que
considera tal punição contrária ao princípio de humanidade das
penas, defendido nas instâncias internacionais.
Portugal, e os países ibero-americanos, foram os grandes
opositores da inclusão não só da pena capital, mas também da pena
de prisão perpétua no Estatuto do Tribunal.
No entanto, venceu a corrente conciliadora. Assim, as
negociações levaram à
aceitação da manutenção, no Artigo 77 de seu texto, da pena de
prisão perpétua, em troca da não inclusão da pena capital.
Por seu lado, os detratores da pena de prisão perpétua
fizeram constar tal pena como exceção, a ser aplicada apenas em
casos de excepcional gravidade dos crimes ou de circunstâncias
individuais do criminoso, além de cláusula mandatória de revisão da pena , após 25 anos de
seu cumprimento - Artigo 110 do Estatuto. Caso indeferida a revisão,
a Corte se obriga a proceder a novas e sucessivas revisões
periódicas, na forma ainda a ser regulamentada pelas Regras de
Procedimento e Prova que estão sendo discutidas junto à Comissão
Preparatória - PrepCom.
Entendi necessário esse pequeno histórico, tirado da
excelente obra organizada por Roy S. Lee, a fim de que possamos
compreender que a manutenção da previsão da pena de prisão
perpétua no Estatuto deu-se
muito mais por necessidade, para evitar-se um maior confronto com as
delegações que insistiam na inclusão da pena de morte, o que vem
bem a demonstrar que grande parte das nações ainda vê nas penas mais severas a única
forma de justa retribuição aos crimes mais graves.
Cumpre ainda lembrar que, por decisão da maioria das
delegações, mais uma vez aquelas mais afinadas com o sistema da common law, a aplicação das penas previstas no Estatuto
fica a critério dos Juízes, que têm poder discricionário para
escolher, dentre as espécies previstas, a pena a ser aplicada. Nenhum
dos delitos previstos no Estatuto traz pena específica cominada, à
semelhança dos previstos nos estatutos dos Tribunais ad hoc de Ruanda
e da extinta Yugoslavia. Tal forma de cominação de penas, totalmente estranha às
nossas tradições, tem igualmente sido interpretada – sem razão - como ofensiva ao princípio de
individualização das penas.
Após esse breve passeio pela história de um debate que
resultou, a nosso ver, na infeliz e injustificável inclusão da pena
de prisão perpétua no Estatuto do Tribunal Penal Internacional,
resta expor nosso entendimento acerca da compatibilidade ou não de
tal previsão com nosso texto constitucional. Essa, afinal, a tarefa
para a qual fomos desafiados.
Acredito que não haja uma resposta simples, fácil,
detectável de pronto. Qualquer que seja a matéria em discussão, a
própria essência da ciência do direito reside na interpretação.
Direito é interpretação. A norma não é a decomposição de uma
verdade posta. A norma é o que nela interpretamos.
Em verdade, o que me proponho a fazer aqui é dar início a
algumas reflexões, necessárias para que possamos compreender o
modelo de sistema penal proposto pelo Estatuto do TPI, em confronto
com um modelo por nós mais conhecido e tido por ideal e justo.
Não pretendo, mesmo porque não me habilito para fazê-lo,
entrar no discurso filosófico. Como operadores do direito , acabamos
criando o hábito de buscar respostas nas normas, muito mais do que
nos valores que lhes dão sustentação.
A primeira e importante observação necessária é a de que a
ratificação do Brasil ao TPI não implica, jamais poderá implicar,
em defesa da pena de prisão perpétua.
A Constituição Brasileira prevê um extenso e cuidado rol de
direitos e garantias fundamentais no seu artigo 5º. Por força do
artigo 60, pár.4º, inc.4, sequer proposta de emenda constitucional
tendente a abolir direitos e garantias individuais pode ser objeto de
deliberação. Assim, à
primeira vista, o inciso XLVII, ‘b’, do art. 5º da CF, que
proscreve a pena de prisão perpétua, geraria a incompatibilidade do
texto do Artigo 77 do Estatuto, a impedir a ratificação do Brasil.
Não vejo como tão simples a equação.
Primeiramente, e dentro da mais tradicional doutrina
constitucionalista, é de se lembrar que os princípios,
sempre, prevalecem sobre as regras. E é princípio da
República Federativa do Brasil reger-se, nas suas relações
internacionais, pela prevalência dos direitos humanos
( art. 4º, II ). Não há que se esquecer que o país tem por
um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana ( Art. 1º, III ).
Nem como esquecer-se, ainda, que ao rol de direitos e garantias
fundamentais agregam-se os direitos e garantias previstos nos tratados
internacionais dos quais o país seja parte ( Art. 5º, pár.2º)
Nas relações internacionais, pois, é princípio
constitucional reger-se o país pela prevalência dos direitos
humanos. Não vem desvinculada de respaldo
principiológico a norma inserta no art. 7º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias que aduz que o Brasil propugnará pela criação de um Tribunal
Internacional de Direitos Humanos. Não é esta uma norma
programática despida de qualquer conteúdo principiológico. Ao
contrário, aponta para uma das formas
pela qual se realizará o conteúdo do princípio.
Ora, já numa primeira visão panorâmica sobre princípios
constitucionais expressos - formalmente e materialmente
constitucionais, pois - se depreende que o país compromete-se, na
ordem internacional, com a adoção de medidas de preservação de
direitos fundamentais, e propugna pela criação de um tribunal
internacional que apure violções ad direitos humanos.
O Preâmbulo do Estatuto, embora não tenha o caráter
obrigacional de suas disposições, aponta para o TPI como meio de
preservação e restabelecimento da comunidade internacional frente a
ameaças decorrentes dos mais graves crimes contra os direitos
fundamentais, de transcendência internacional. O fim da impunidade, e
a prevenção de novos crimes, são objetivos reafirmados pelos
signatários do Estatuto. Portanto, tem o TPI inegavelmente o perfil
desse Tribunal
Internacional de Direitos Humanos previsto no Artigo 7º do ADCT, e
seus objetivos traduzem a prevalência, na ordem internacional, da
proteção de tais direitos.
Em si mesmo, pois, o Tribunal Penal Internacional não só
atende a um princípio constitucional, como o Brasil se coloca
como incentivador de sua implementação.
Essa a linha da primeira reflexão que proponho aos estudiosos
da matéria. A criação de um Tribunal Penal Internacional de
direitos humanos é princípio expresso em nossa
Constituição. Assim, regras específicas contidas no texto
constitucional devem ser interpretadas de molde a se conformar com o
princípio de que decorrem. Não o inverso: não se pode privilegiar a
regra, em detrimento do princípio
Vejo assim que, ao propugnar pela criação de um Tribunal
Penal Internacional de direitos humanos, não poderia o constituinte ,
à evidência, condicionar-lhe a estrutura, organização e
funcionamento ao modelo e semelhança dos tribunais internos.
Regendo-se nas suas relações internacionais pela prevalência dos
direitos humanos, a existência de normas de direito interno diversas
daquelas previstas numa Corte internacional não poderia levar a um
juízo de incompatibilidade, quer formal, muito menos substancial, por
uma questão de lógica.
Numa segunda ordem de reflexões, vejo que o constituinte, ao
formular o elenco de direitos e garantias previsto no art. 5º, mais
especificamente o regime penal contido nas regras dos incisos XLV,
XLVI, XLVII, XLVIII e XLIX, não poderia ter em conta senão as relações entre o Estado,
através de seus órgãos repressivos, e o indivíduo que, nos
termos do princípio da territorialidade, houver cometido delito no
território nacional ou nas suas extensões, como previsto em lei.
As normas de direito penal da Constituição regulam o sistema
punitivo interno. Dão a exata medida do que o
constituinte vê como justa retribuição. Não se projeta, assim, para outros
sistemas penais aos quais o país se vincule por força de
compromissos internacionais.
Aliás, esse já fôra o entendimento do eminente Ministro
Francisco Resek, no julgamento da Extradição nº 426 - tida como leading case - em que o Supremo
Tribunal Federal deferiu extradição de estrangeiro a Estado
requerente no qual se aplicaria a pena de prisão perpétua, sem
condições ( RTJ 115/969). Em seu judicioso Voto, o eminente
internacionalista já afirmava que “(...) no que concerne ao
parágrafo 11 do rol constitucional de garantias” ( e aqui o
Magistrado se referia ao rol de direito e garantias fundamentais do
art. 153 da Constituição anterior, e que dizia respeito à
proibição de penas de prisão perpétua) “ele estabelece um padrão
processual no que se refere a este país, no âmbito especial da
jurisdição desta República. A lei extradicional brasileira, em
absoluto, não faz outra restrição salvo aquela que tange à pena de
morte. (...) O que a Procuradoria Geral da República propõe é uma
extensão transnacional do princípio inscrito no parágrafo 11 do rol
de garantias.”
No mesmo julgamento, o não menos iminente Ministro
Sidney Sanches afirma: “(...)
O parágrafo 11 do art. 153 da Constituição Federal, a meu ver,
visou impedir apenas a imposição das penas ali previstas ( inclusive
a perpétua) para os que aqui tenham que ser julgados. Não há de ter
pretendido eficácia fora do país.”
Na Extradição n. 669.0, o eminente Ministro Celso de Mello,
trazendo precedente da lavra do respeitado Ministro Sepúlveda
Pertence, dele transcreve: “(...)
A questão da imposição das penas privativas de liberdade, tais como
abstratamente definidas na legislação de New Jersey, traduz opção
judicial peculiar ao ordenamento jurídico daquele estado-membro da
União norte americana. Nesse contexto, não se pode impor, no plano
das relações extradicionais entre estados soberanos, a compulsória
submissão da parte Requerente ao modelo jurídico de aplicação de
penas vigente no âmbito do sistema normativo do estado a quem a
extradição é solicitada”. Em seu Voto, o relator conclui: “(...) A forçada importação de
critérios ou de institutos penais não se legitima em face do direito
das gentes nem se justifica á luz de nosso próprio sistema
jurídico.” ( RTJ 133/1097).
Tais precedentes são ora trazidos apenas para demonstrar a
sensibilidade de nossa Corte Superior no sentido de afirmar a
aplicação territorial de nossa lei penal. Não diversa a situação,
como ora se apresenta, de ter-se à vista ordenamento que provém
seuqer de outro Estado soberano, mas de órgão supranacional, cujas regras jamais poderiam
ser tidas por incompatíveis com nossas regras internas pelo simples
fato de que se aplicam por órgãos jurisdicionais distintos.
Já por essa reflexão, também, não vejo como possam
quaisquer institutos de direito penal interno, ainda que com status constitucional, serem
opostos como barreiras intransponíveis à submissão do país a um
sistema penal internacional.
Mas não é só.
A ordem jurídica, interna ou internacional, é dinâmica. E
não se pode cogitar de um princípio, ou de uma norma, dissociado do
valor que lhe é subjacente, ou de que é decorrente. Em outras
palavras, uma norma jurídica não subsiste só por sua existência
formal, mas também pelo seu conteúdo substancial. Nessa medida, a
própria Constituição , mesmo sem revisão ou emendas que lhe
alterem a forma, pode assumir novos conteúdos decorrentes de um
câmbio no conteúdo material dos direitos envolvidos. Assim, alguns
autores resumem esse fenômeno como sendo aquele em que há um
processo informal de mudança na Constituição, por meio do qual
seriam atribuídos novos conteúdos, novos sentidos não expressos na
letra das normas. Tais mudanças adviriam, pois, a partir de mudanças
na realidade, e seriam reconhecidas através, a exemplo, de nova
interpretação do texto constitucional.
Essas mutações podem alterar o conteúdo material de normas
constitucionais, e são constitucionais na medida em que não
afrontem princípios, nem arranhem as chamadas reservas materiais ou
reservas de justiça, nem causem trauma ao sistema. E decorrem da
interpretação, de uma nova construção jurisprudencial, da mudança
dos usos e costumes, de práticas governamentais e, aqui convergimos,
da implementação da normativa internacional.
Em mais simples anotações, tenho que a construção,
normativa ou decorrente dos usos e costumes, de um arcabouço
jurídico internacional, pode trazer alterações materiais à
Constituição. E, no caso, na criação de um Tribunal Penal
Internacional, inexistente à época da promulgação do texto da lei
maior, mas prevista em suas disposições finais transitórias,
reflete-se esse poder difuso
para provocar alteração no conteúdo da Constituição.
Não haveria assim, nas disposições estatutárias, qualquer
incompatibilidade com o texto da lei maior, na medida em que a
proibição da pena de prisão perpétua restringiria o legislador
interno, e tão somente ele. De outro lado, a afirmação do
princípio da prevalência dos direitos humanos no plano
internacional, e da disposição constitucional de se propugnar pela criação de um
tribunal internacional de direitos humanos, levam ao entendimento de
que as normas do Estatuto desse tribunal podem operar mutações
substanciais no texto constitucional, que passa assim a abrigá-las
sem a necessidade de qualquer alteração formal em seu texto, e
sempre desde que se conformem com suas reservas materiais.
Por fim, e como último argumento para reflexão, lembro que o
próprio texto constitucional, no mesmo rol de direitos e garantias do
art. 5º, prevê a exceção da pena de morte, para os crimes
militares cometidos em tempo de guerra ( Art. 5º, XLVII, ‘a’).
A leitura do texto do Código Penal Militar ( Decreto Lei 1001,
de 21.10.69), nos traz a triste visão de um extenso rol de delitos
punidos com pena capital. A traição ( art. 355), a fuga ( art. 365),
o dano em bens de interesse militar ( art. 384), o abandono de posto (
art. 390) são alguns exemplos. Prevê, ainda, alguns delitos cujas
condutas típicas são semelhantes às que vêm elencadas no rol do
Artigo 8 do Estatuto, ou no Artigo 3 Comum das Convenções de
Genebra, que descreve os crimes de guerra. Também, a exemplo, pune
nosso Código Penal Militar, com a pena de morte, os crimes de
genocídio ( art. 401 ), e de violência sexual ( art. 407), este quando
houver o resultado morte. Veja-se que não distante de diversas
definições típicas trazidas pelo Estatuto, as quais, apenas em
situações excepcionais, poderiam ser punidas com a
pena de prisão perpétua. Portanto, nossa legislação interna, ao
abrigo de dispositivo constitucional, prevê pena muito mais severa
que aquela trazida pelo Estatuto para algumas figuras típicas
análogas.
Ainda recentemente, o Brasil ratificou o segundo Protocolo
Adicional da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o qual, em
seu Artigo 2, reafirma que os Estados signatários se comprometem com
a abolição da pena de morte, ressalvando-se, no entanto, sua
previsão aos casos de crimes de guerra.
Não há, pois, uma restrição moral ou substancial do
constituinte contra a pena de morte em casos de crimes cometidos em
situação de guerra, embora, nesse caso, tenha o Brasil assumido
inclusive obrigações internacionais no sentido de não ampliar as
hipóteses previstas. Diante dessa constatação, reforça-se a idéia
de que a previsão restritiva à pena de prisão perpétua, dirigida
ao legislador ordinário interno, não oferece resistência à
apenação de crimes internacionais, em tudo assemelhados aos crimes
cometidos em tempo de guerra - aqui compreendidas as situações de
conflito previstas no Estatuto do TPI - que poderiam inclusive, na
legislação interna, serem punidos com a pena capital.
Sem a pretensão de ter trazido soluções às controvérsias,
espero que estas reflexões possam contribuir, ao menos, para que
prossiga um debate sério e desapaixonado sobre a importância do
Tribunal Penal Internacional, e a necessidade de o Brasil ratificar
seus Estatutos aceitando-lhe a competência. A aceitação das
competências de uma corte internacional de direitos humanos é
princípio constitucional, e o princípio, como sabido, deve ser
levado em conta como principal critério de interpretação e
integração do texto constitucional.
Sempre oportuno lembrar que o controle internacional sobre a
ação dos Estados é garantia da promoção dos direitos e garantias
fundamentais, como afirmou Fabio Comparato,
já que a proteção das pessoas contra os mais graves crimes de
transcendência para toda a comunidade internacional não pode ser
interpretado como assunto de exclusivo interesse doméstico.
A leitura dos diversos dispositivos do Estatuto do Tribunal
Penal Internacional demonstra que ele adota o ideário garantista.
Não deixa de preocupar-se com os princípios garantistas da
legalidade dos delitos e das penas, da irretroatividade, da
culpabilidade. Em seu Artigo 67 elenca extenso rol de garantias
processuais, sob determinados aspectos mais detalhistas inclusive do
que várias das normas processuais de nossa legislação interna.
Não se pode, diante de todo esse conteúdo, afirmar que a
previsão da pena de prisão perpétua - expurgada, com razão, de
nosso ordenamento interno - traduz a consagração de um tribunal
alheio aos princípios garantistas do direito penal moderno.
De qualquer forma, aliando-se
o reconhecimento da existência de mutação constitucional decorrente
da criação de um tribunal internacional de direitos humanos pelo
qual o constituinte propugnava, ao
fato de abrir o próprio texto constitucional possibilidade de
apenação inclusive mais grave a crimes previstos igualmente no
Estatuto do Tribunal Penal Internacional, vejo como possível a
ratificação imediata do Estatuto de Roma, sem que com isto se esteja
infringindo quaisquer de suas disposições de proteção a direitos
fundamentais.
Volta
ao sumário
|
|
|
|
|